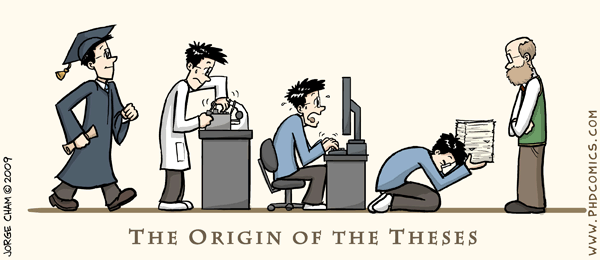A banalização da escrita
/Cassandra Jordão entrevista Lídia D.
Resolvi procurar os conselhos de Lídia D. porque entendo que a minha ligação contractual à Enfermaria 6 apresenta algumas deficiências espirituais. Estas deficiências espirituais manifestam-se sobretudo ao nível de me serem confiadas tarefas assaz mecânicas (como por exemplo, ter de juntar os versos de poetas que nos enviam poemas mal formatados através de horas de pressão continuada de uma combinação das teclas de caps lock e enter) que, no entanto, não são mecânicas o suficiente para que o cansaço me tire a vontade de espiolhar as páginas do Facebook dos autores nacionais. Juntámo-nos para falar do fenómeno que Lídia D. apelida de banalização da escrita.
O que é banalização da escrita?
Olhe, você conhece aquela marca de cerveja, a BrewDog? Aquilo é um bando de gente que sabia muito de cerveja e dormia no sofá em casa dos pais, que agora vendem muito mas ainda não têm um departamento de marketing porque se divertem a escandalizar as pessoas de uma maneira mais ou menos terrorista. Fazem umas quantas declarações bombásticas para vender mais umas cervejas, no fundo não oferecem nada que você não possa beber noutro lado, mas no fim é tudo sobre a cerveja. A primeira parte da minha descrição da BrewDog existe no mesmo espectro de fenómenos que levam à banalização da escrita. A BrewDog é um fenómeno mediático de gosto discutível, que gera muito barulho numa tentativa de chamar a atenção sobre si própria. A segunda parte é a descrição de uma arte, porque é a descrição de uma paixão, você é bom numa coisa e só existe aquilo, e toda a sua vida está construída ao redor dessa coisa, e tudo o resto é uma impaciência chata que você atura com tristeza até chegar ao momento de se ver sozinho com o seu trabalho, o que não significa que você seja o Dostoievsky naquilo que faz. As pessoas bebem a BrewDog em parte porque intuem esse lado mais profundo do ofício de fazer cerveja, que os brewers da BrewDog são de facto brewers e não apenas figurantes de brewers a quem a cerveja importa bem menos do que a publicidade. Você pode amar escrever e ser um autor menor e ser bom na sua menoridade. A crítica nacional aprecia mal ou não sabe apreciar esse intervalo dos autores menores e eu acho que isto tem banalizado uma série de discursos em tornos do acto de ler e escrever, expressos em críticas formulaicas que banalizam escritores e leitores. O Borges tem um poema sobre autores menores, em que diz que a meta para um escritor é o esquecimento, e aquele que é menor é o que chega antes disso. Digamos que um Rilke e um Celan, para mim, não se confundem com um Zweig, mas que sinto uma certa felicidade de saber que tenho umas quantas páginas de Zweig à minha espera num lugar qualquer e não sinto que tenha perdido o meu tempo ou tenha sido enganada ao lê-lo. A banalização da escrita é você ler o jornal e ficar com a impressão de que um país de dez milhões produz um facto literário da dimensão do Guerra e Paz de duas em duas semanas, é a confusão da crítica literária com um discurso normativo em torno dessa arte complexa que é a literatura, a confusão da tarefa do crítico com a da criação do cânone, e a outra confusão a cheirar a caruncho que se esconde atrás dessas, que é a noção do génio iluminado que só pode ser reconhecido por dois ou três críticos mais avisados, coisas que normalmente são descritas na ordem do segredo bombástico que explode na mão. Se alguma coisa me vai explodir na mão eu prefiro que não me avisem, porque ao fim de três explosões falhadas o que eu estou é desapontada, para não dizer irritada, tenho comprado e lido muita merda porque mirones míopes no Público, na Ler e no Jornal de Letras usam despudoradamente a palavra génio e tendem a avistar um Celan em Telheiras a cada duas semanas. Não há nada de errado em querer escrever sobre um escritor menor ou um livro apenas competente sobretudo porque um Dostoievsky aparece uma vez numa lua azul, com muita sorte há um numa geração inteira de milhões de pessoas. O crítico nacional tem de esvaziar a mente para a página de semana a semana e às vezes mais do que uma vez por semana. É difícil que isto não se torne da ordem da masturbação. A vida pode ser um lugar aborrecido, um acontecimento digno de ser recordado pode não acontecer durante semanas. Para qualquer pessoa ter uma ideia de jeito que valha a pena atirar para o papel pode levar semanas, meses até, imprimi-la pode exigir muito mais do que isso. Muitos críticos contornam esta dificuldade de não lhes chegar nem uma frase de belo efeito nem um Dostoievsky todas as semanas afectando uma postura de autoridade, não raramente referindo-se a uma suposta coisa que não importa a um leitor mediano um cu, a maestria do autor. O que é a maestria do autor? Maestria vem do latim, magister, professor, cuja raiz talvez se confunda com a que dá origem à palavra mago, mas muitos dos mestres que por aí são anunciados tendem a não passar de discípulos, e os melhores mestres podem bem regredir para a triste condição de discípulos sem talento, como se aprende no doloroso exercício de ler o Lawrence Durrell de O Quarteto de Alexandria e o de O Quinteto de Avinhão (o génio no triste pastiche de si próprio), eu vejo uma literatura cheia de jovens mestres de 40 anos, mas achava que os melhores mestres são os que preferem ser deixados em paz para serem alunos a vida toda, que tendem a ser atormentados amiúde pela pergunta, mas afinal o que é que eu sei? O que é a maestria? O crítico não sabe, acha que pode ser essa coisa a explodir-lhe nas mãos (se bem ordenhada), o génio. E o que é isso, você sabe? Então você tem alguém que lhe atira o conceito do raro que é para uns happy few. Como é? Você, burguês lisboeta, comedor de tremoço que bebe cerveja na esplanada em Junho, quer entrar no círculo ou não? Vai deixar o último Pessoa andar para aí trancado no quarto ou a beber bagaço em paz no Martinho da Arcada, sem você estar devidamente informado? Não, o crítico é alguém avisado e cheio de autoridade moral e agora avisou-o também. O que este tipo de discurso focado na maestria (anda o crítico a tentar aprender, ou a fingir que aprendeu, o que é ser um Dostoievsky vislumbrando um em toda a parte a cada semana?) produz é uma grande tristeza e bastante decepção num leitor mediano. E olhe que quando uso aqui a palavra mediano não imagine o universo mental de Michael Bay e a poética de um Toy. O meu leitor mediano lê Tchekov, comove-se com a poesia de Joyce, e é viciado em Tony Judt, só não vem a correr escarafunchar num caderno, sempre que um arrepio lhe passa pela espinha, que ouviu um tolle et lege. Isso acontece e é lá com ele, no silêncio mais fundo do que existe dentro dele, sozinho a tentar entender o mundo e a tentar chegar a uma visão do mundo que possa ficar na imaginação como um mapa que possa ser sempre navegável, nós gostávamos que ele partilhasse isso connosco, mas com alguns livros até é bom que ele não possa, a algumas coisas você pode chegar pelo intermédio de outros, mas não pode bem ser preparado. E você tem então de se perguntar: como pode um crítico responder a estas dificuldades? Que posição pode este pobre coitado escriba, que no fim, como você e eu tem é de ganhar o seu pecúnio para comer batatas fritas no Chiado, ocupar, num ofício em que ser um leitor é muitas vezes confundido com um exercício de auto-afirmação? E como fazê-lo sem ser apelidado de coninhas pelos restantes críticos (leia-se a crítica nacional que jaz abaixo do paralelo do Correio da Manhã)? Primeiro, há isto, há uma diferença entre pensar sobre um assunto, escrever umas linhas sobre ele, e achar-se o Super Homem por isso, o que subsequentemente lhe pode dar a ideia errada de que você tem o direito de perseguir os outros e de policiar o que eles apreciam ou não apreciam ler, e o que lhes apetece escrever ou não. O que é muito mau é profundamente fácil de criticar, se você está a ler sobre batatas na secção de crítica literária não se perturbe, não é tanto que o seu crítico de pacote ache que você é um leitor tão desavisado que confundiria um saco de amendoins com Walter Benjamim, é que ele tem uma agenda e você pode bem descobrir que o pobre marreco que assinou um verso de mau gosto não lhe caiu bem no goto quando lhe pagou o café, ou então chateou algum amigo dele. Se você leu que um livro é mau, e ninguém lhe está a explicar a relevância dessa fraqueza para a sua vida de leitor, para a cultura em que essa falta de qualidade, ou mesmo maldade, se expressa, então você perdeu o seu tempo. E depois é aceitar o facto de que por um crítico não topar com um Dostoievsky todas as semanas não significa que haja algo de errado com o crítico, ou que ele tenha de ir arranjar uma receita para comprar Viagra. O que me leva ao meu segundo argumento, o que importa a um leitor não é a maestria de um autor, mas o que um livro diz e sobretudo o que um livro lhe diz a ele, muito privadamente no contexto da narrativa da sua própria vida. Eu prefiro que o crítico que escreve no jornaleco todas as semanas me fale do primeiro argumento, e me deixe em paz para decidir por mim se um livro tem o potencial para me dizer alguma coisa do modo que acabei de descrever, o que um livro significa para mim. Um crítico muito bom consegue talvez comunicar o que um livro lhe pode dizer a si privadamente, mas isso é uma capacidade excepcional de falar de coisas que foram escritas e são profundamente únicas, e mesmo esse momento é de algum modo excepcional para o crítico, não acontece todas as semanas, o resto é um ofício mecânico, e de algum modo triste. Você é um crítico, o que significa que, se você está agarrado à normatividade bombástica do génio hoje em dia ou da monótona descoberta do oásis no deserto, você é um bocado a extensão de um departamento de marketing de uma editora, e pode muito bem não ter muitas ideias. Para valer a pena ler um pedaço de crítica, a crítica pode bem falar-nos sobretudo das ideias de um livro, e o estilo do autor é apenas uma dessas ideias, e não é a mais interessante. Se mais nenhuma ideia lhe ocorre além do estilo, vulgarmente descrito por maestria, então o livro que você leu é uma merda, ou você é um mau crítico, ou ambos. O que é que acontece aí? Você acaba a lamentar-se que Herberto Helder vá ser lido, ou que os seus amigos que escrevem não são convidados para tantos festivais quantos deviam. Nada disto tem que ver com a alegria de ler um bom livro.
O que é a não banalização da escrita?
O curto sono de Kafka, duas horas a cada tarde depois do escritório, para pouco a pouco e com muito esforço, das oito à meia-noite a cada noite, enquanto o Hermann Kafka ronca no quarto ao lado, lhe trazer A Metamorfose, O Castelo, O Processo. É Arquíloco a confessar a canhalice de ter deixado o escudo aos trácios, Nunca ninguém tinha dito aquilo daquela maneira, o que não significa que não tivesse havido milhares de soldados antes dele que cheios de medo fugissem do campo de batalha sem sequer trazerem o escudo com eles. Bloom a masturbar-se numa praia em Dublin mais o monólogo da Molly quase no fim, coisas que ainda não tinham sido ditas daquela maneira, de repente inadiavelmente reais, disponíveis para serem pensadas mais do que por críticos por gente com espírito crítico, no fim é só aí que a tarefa do crítico é sagrada como a de um escritor, trazer ao de cima, ou inspirar, o espírito crítico dos outros, o que na melhor das hipóteses pode até ser contra ele e apesar dele, esse é o crítico que o ajuda a viver, que nem sequer é bem só crítico, é mais uma criatura da literatura. Os críticos no fundo são os verdadeiros Íons do ofício literário, o ofício deles não é específico, é ainda menos específico do que o do escritor, mas se forem mesmo bons inspirarão nos outros uma ideia, um ponto de partida, e por isso ficaremos sempre agradecidos e voltaremos a lê-los com prazer. A não banalização da escrita vem da escrita que não é banal e que não o banaliza enquanto leitor, é o que resulta de uma combinação de amor, necessidade e culpa. É você saber que vai perdoar ao Lobo Antunes aquela parvoíce do leão e da cria na entrevista sobre a Elena Ferrante porque ele é o tipo que escreveu o Fado Alexandrino. Você lembra-se como foi? Ler o Fado Alexandrino? Agora não seja estúpido, tenha esperança e lembre-se que o crítico que assina o fait divers medíocre na temporada morta de Agosto, para coscuvilhar a parvoíce que o seu Homero disse na última entrevista, não raro para enaltecimento da própria inteligência banal do crítico, pode apanhar um dia destes com um Thomas Bernhard que lhe acerte umas furiosas pauladas de indignação justa e impaciência. Nesse momento você vai lembrar-se do longo olhar de Petrónio no banquete de Trimalquião e constatar que o mundo é espetacular de maneiras que ainda nem sequer nos passaram pela cabeça. E isto é ainda uma coisa que um belo escritor fará por si. Na viagem que é ler seja o que for, esse pode bem ser o melhor momento de todos.