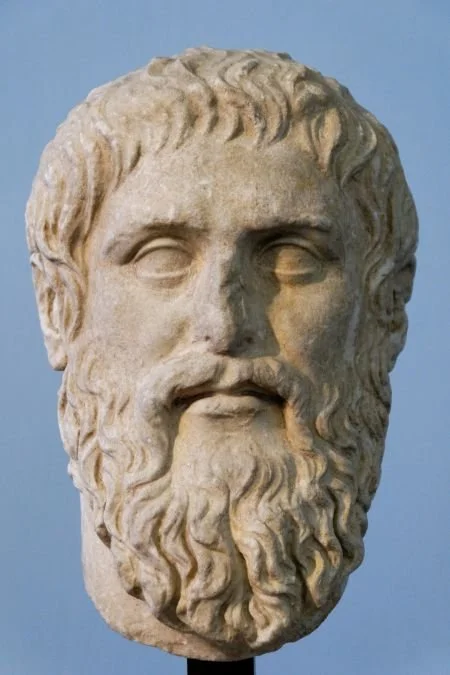Falar a mesma língua
/Conheci o poeta J. A. no meio de uma manifestação dessas que agora se convocam por meios remotos. Primeiro surpreendi-me ao vê-lo. Por bem-intencionado que fosse o objectivo da aglomeração sabia que as multidões não o entusiasmavam. Passada a surpresa, não podia perder a ocasião de falar com ele. Procurei a melhor posição e tentei mantê-la, separavam-nos poucos metros, eu seguia atrás. Ele avançava sozinho e não posso dizer que participasse nas palavras de ordem.
O protesto acabou e todos dispersavam. O poeta J. A. deu uma volta sobre si próprio, de mãos nos bolsos, e fazia menção de tomar uma direcção. Mudou de ideias no segundo seguinte para imobilizar-se e dar um passo escolhendo um ponto cardeal distinto do momento anterior, enfim, não podendo estar perdido estava pelo menos bastante indeciso. Foi aquele comportamento errático que me deu o empurrão final para chegar a abordá-lo.
É escusado contar como meti conversa com ele. Sentámo-nos na escadaria e ficamos até ser noite. Era eu que o acompanhava – uma sorte, mas podia ser qualquer outra pessoa, naquele momento, ele teria contado igualmente as mesmas coisas, a mesma história de busca do autêntico ou do genuíno. Lembrei-me imediatamente de um conto do escritor albanês Ismaíl Kadaré que versava sobre a relação de amor entre um poeta octogenário e uma mulher jovem. O poeta tinha sido convenientemente transferido pelo Partido para uma pequena cidade de província onde se supunha que o efeito nefasto da nostalgia presente nos poemas não causaria tantos estragos à energia, à doutrina, ao optimismo inculcado, ao realismo socialista, que se vivia na «capital». Abundavam as frases contra a nostalgia. Afastada do poeta, a mulher demorou tempo a procurá-lo e chegou demasiado tarde.
O poeta J.A., ainda longe de ser octogenário mas triplicando-me a idade, contava-me a história de um encontro que procurava repetir. Depois da primeira vez nunca mais existiu um dia igual ao Passado. Procurou-a vezes sem conta sobretudo nos momentos mais insuspeitos, como aquela manifestação que terminara. Resumia-me as palavras anteriores que eu, sem grande experiência, encontrava absolutamente apaixonadas e apenas pressentindo o esencial de uma procura muito além do conforto, uma procura outra que ainda não desistia: «Foi o espanto que me deixou paralisado e não queria acreditar no que ouvia. Regulava-me por outras fantasias que não passavam de embustes e que agora encontro odiosos. Depois disso raras vezes a vi. E nunca mais encontrei ninguém que falasse a mesma língua que eu.»