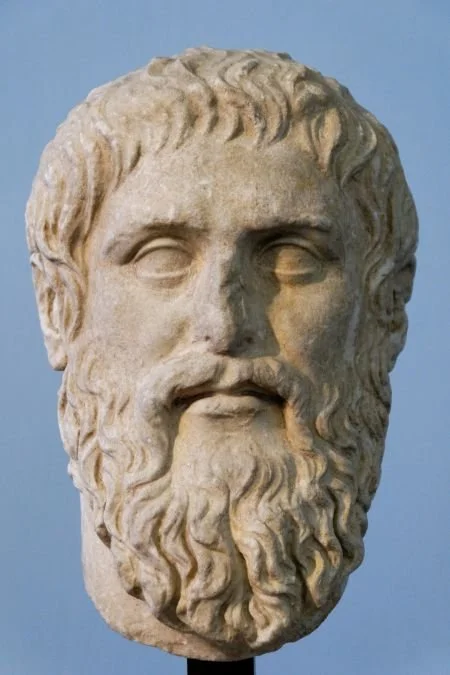Jerusalém Celeste
/A meio da tarde continuava estendido na cama enquanto a ventoinha a girar no tecto fazia que me refrescava. Decidia quais os próximos lugares a visitar em Jerusalém. Os primeiros locais já tinham surgido e não através de uma decisão planeada. Subi aos terraços de St. Marks Road para uma impressão geral. Uma luz branca pintava todos os terraços. Avistei pela primeira vez a cúpula dourada da mesquita de Omar. De forma estratégica posicionavam-se homens equipados com shotguns. Lembrei-me de Amos Oz. O escritor israelita vive no sul de Israel e já escreveu diversas vezes sobre o fanatismo: politico, religioso, sentimental. Lembrei-me também de Machado de Assis que aconselhava evitar todo o tipo de ideias fixas para esquivar tragédias das quais não se podiam antecipar as consequências. Voltei ao nível do chão e caminhei por David Street, a rua mais concorrida e comercial da cidade velha. Um bom ponto de partida. Um amplo intercâmbio de inutilidades elevado a um expoente de celebração. Mas a distração acidental tem um efeito passageiro e por isso não deixa marca. Preferia as pedras; as pisadas do chão e as que edificavam. Perante essas pedras via-me melhor que nunca.
E logo o bem-estar imediato: na primeira incursão a Jesusalém Este, num local diminuto, almoçei falafel acompanhado de vários copos de sumo de limão com menta. O filho do dono do local, que teria à volta de dez anos, estava sentado perto de mim. Olhava-me com os braços enfiados entre as pernas. Baixava e levantava os olhos conforme ganhava a timidez ou a curiosidade. Parecia querer dizer num acabado pensamento ocidental e adulto: o meu pai obriga-me a não ter dez anos. Prestava-se a ajudar o pai em qualquer tarefa. Levantei-me e o rapaz também se levantou. Olhava para mim como se tivesse medo que eu caísse. Estava atento a qualquer cambaleio. Subitamente o rapaz pareceu-me um perigo em potência, outro profeta que imporia as suas próprias leis dogmáticas – leis para impedir a queda, leis para a salvação eterna. Outro profeta forjado nas ruas da cidade antiga. Para me reconciliar com a figura do menino-adulto dei-lhe umas moedas, propondo que é mais fácil corromper que propôr a descrença nas grandes verdades tendo como único argumento a existência aborrecida e pacífica. O sorriso do rapaz pareceu-me outra vez inofensivo e inocente. Regressando às lajes polidas das ruas arrependi-me de colocar na cara de uma criança tantas cores juntas, claramente reflexos meus, imagens que aparecem com a mesma frivolidade com que desaparecem.
No tecto a ventoinha rodava sem descanso. Rodava e não me servia o ar que movimentava mas sim o ruído constante do pequeno motor que me deixava cada vez mais próximo do sono. Quase sonhando, decidi que na minha primeira incursão planeada havia de subir o monte das oliveiras; poderia estar por ali alguma família a celebrar um funeral e eu a certa distância talvez pudesse assistir. E a mesma conclusão, desperto, acordado, uma e outra vez: uma vida que decorre entre a doença e a convalescença. E nos longos períodos de convalesça a confiança renovada de que a última cura foi a melhor de todas. De facto, uma espécie de atrevimento febril na hipótese nula da possibilidade de recaída.