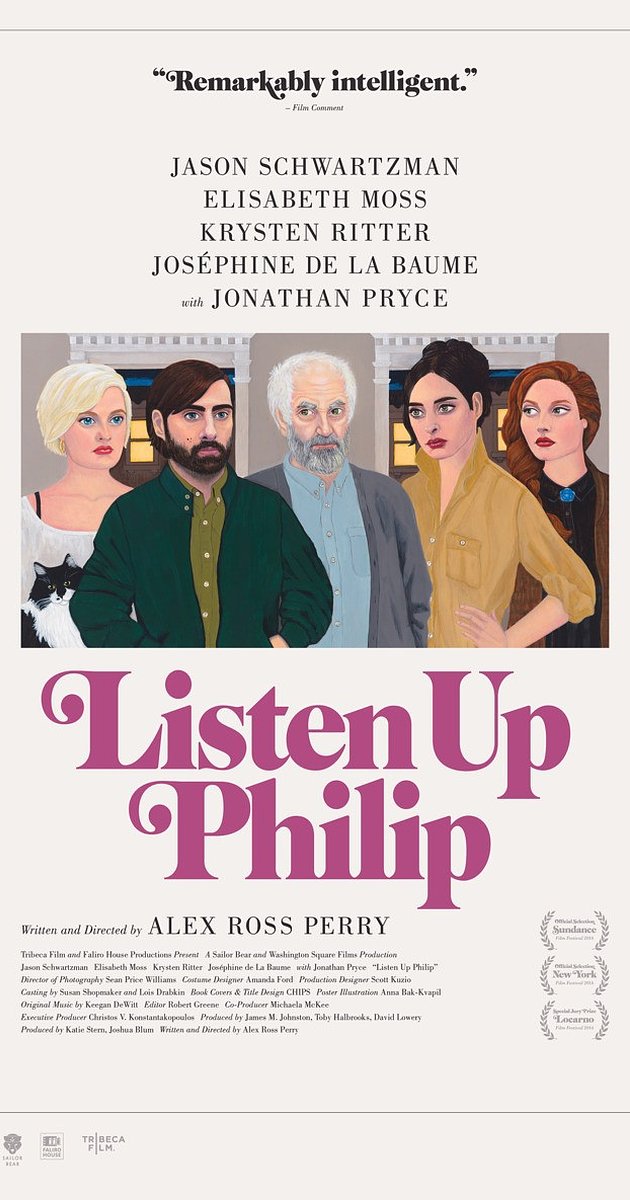Diferente em tudo da esperança
/Pintura de Eric Zener.
Terapia, que terapia. Gatafunhava e apagava, mascarrava a palma da mão e os dedos e a cara, amassava o papel, as palavras falhavam o alvo, atirava folhas ao chão, rosnava bosta de cavalo, escrita de bosta, atulhava de fanicos o quarto da cachopice, roía tampas e canetas, os dentes faziam tic-tic-tic no plástico, escrevia, aquilo não era escrever, grafava uns traços com a ponta da bota, parecia que era da ponta da bota que os rabiscos desabrochavam, e o que se lia no caderno mal abrangia um drama existencial sentido como intransferível para códigos linguísticos: «Se não te vir mais, quero que saibas que te adoro.» Se, horrorosa combinação, estafava começar frases com se. E o adoro, tão meloso. Pensava na separação. «Se um dia me deixares.» Mais uma folha a voar pela janela, pateta. Teria dado jeito aprender a escrever. Se e se. «Se me abandonares, dou um tiro na boca.» Radical, radical seria premir o gatilho sem conversas prévias, evitar teatros. «Salto da ponte.» Jerico. Saltaria da ponte e subiria a serra de bicicleta e rezaria o terço e fornicaria as beatas no fim da missa. Mastigava o papel, mandava as gavetas da escrivaninha contra o estrado da cama. Até a falar para dentro mentia. «Por ti emprego-me nas obras, carrego baldes de cimento. Ver outras mulheres é como ver nenhuma.» Frases de chachada. A cunhada. Pausa para amaciar os testículos. Amava-a e amava a namorada e a sogra e a si próprio, amava e odiava, se calhar odiava mais do que amava, não distinguia sentimentos. Amar. Odiar. Sublinhava, torcia o nariz, os vocábulos sabiam-lhe a algodão doce, a enjoo. Era impossível afastar uma fêmea de perna aberta a disparar ordinarices. Não resistia. Não fazia o esforço. A cunhada a rasgar as meias, as cuecas, a pedir uma demão de vermelho nas unhas, a encaixar nua no macho sentado na sanita. Dizer que não. Que viesse outro e recusasse o filete. «Tu és ela e ela és tu e eu sou as duas e os três somos o mesmo, a soma dos três dá um, na hora da morte seremos pó misturado num balde, e se não estivermos os três a planta seca.» Outra folha rasurada. Plantas secas em vez de peito, de tambor. Parras em vez de tum-tum-tum. A parra murchou. Substancial alteração. O pénis murchou. O pénis murchou, deu um nó e explodiu. Escasseavam escribas de gabarito, eram tão raros que não escreviam. Dava voltas na cadeira. Não transpunha os sentimentos para o papel, ora que bela terapia. Exercitava a caneta: «Somos as estações do ano, frio, calor, nervo, tremuras.» Que fracasso, a beleza interior esquartejada no papel. Soava ridículo. Somos as estações. De modo nenhum. «A distância assusta, gostar de ti, ires para blá, blá, não te blá, blá, a distância é pânico.» Palha. O tal falhar melhor. Falhar pior. Dizes que te afastas, abres essa possibilidade. «Se não te vir mais. Perguntei se gozavas e disfarçava o pálido incómodo. Conheci-te ontem. Sofia, o meu passado, absurdo, nem tem cabimento mencionar o passado, coisinha deprimente. Não me canso de ti, não me canso da tua irmã. Não me arrependo, não sei quem sou, assalta-me esta dúvida, não sei quem sou, vocês assemelham-se a mim, respiro em ti, nela, pertenço aqui e ao universo. Não saber quem sou, nunca soube, a minha luta deveria ser descobrir-me primeiro, amar-me primeiro e depois aos outros. Ando de olhos fechados. O avião despenha-se no oceano, perde-se a vida, estou de olhos fechados, o autocarro atropela-te, definhas na calçada, não reparo, não compreendo, não fui a tempo de merecer outra coisa para além da culpa. Cercado por quilómetros de mar.» O cidadão universal compunha a gola da camisa, clareava a voz com um escarro e rescrevia cidadão universal, cidadão anão, ninguém. O que de bom acontecia, e era tão pouco, vinha com atraso. As mulheres não escapavam à regra. Duas décadas ou, mais precisamente, três décadas de virgindade atestavam a demora. Trinta anos agarrado à mão, a salivar por rabos e seios fugidios, a acenar à dama do quiosque, adeus, vais tarde, a assobiar à vizinha do cabelo caracolado, comia-te toda, comias nada. Trinta anos a cambalhotar na penumbra. Esquecer os problemas, a infância, a mamã. Renascer. Não mostraria a carta, não existia carta. Retraçava. Comia. Palitava papel. Escrevera mas escrever era transcender a parte animal, prescindir da parte bruta, talvez não tivesse escrito, aquilo não tinha relação com a escrita, gatafunhos, migalhas.