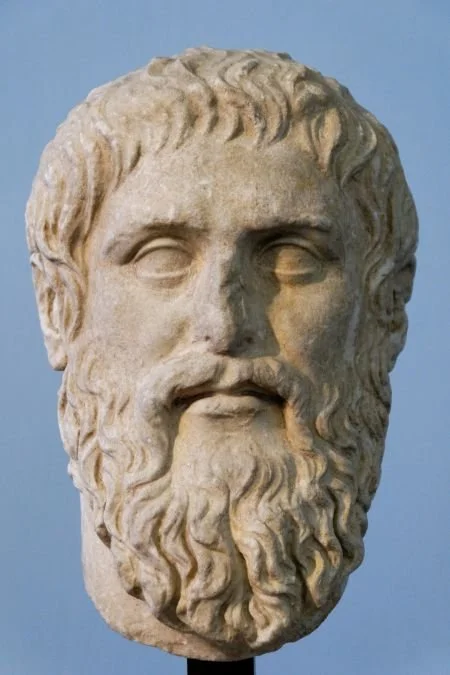Do ruído
/André Kertész, Veneza 1963
No livro Bruits (ruídos), Jacques Attali defende que se o ruído é sempre violência, a música é sempre profética. Ora, a humanidade parece estar cada vez mais ruidosa (num planeta sobrepovoado), como se o barulho, e quase só ele, marcasse as zonas de influência vitais de cada indivíduo. Para quem trabalha numa escola isto é insofismável, quase visceral, mas descubro cada vez mais algo parecido nos múltiplos campos da vida social, o ruido tomou conta do mundo.
Pierre Bourdieu, sociólogo activista, via com bondade o falar alto das classes trabalhadoras, habituadas, por necessidade, a comunicações estridentes nos locais de trabalho. Mas talvez seja uma excepção, e mais teórica do que prática (Bourdieu não frequentava os ajuntamentos populares nem imergia incógnito, como Simone Weil, nas fábricas). Nietzsche, por sua vez, tantas vezes histriónico, dizia que as grandes coisas surgem de maneira sussurrante. George Steiner imaginava o Borges conservador no silêncio do seu gabinete inventando o mundo que realmente existe (a conservação requer este tipo de invenção). Muitos outros, com toda a razão, perceberam a dissonância entre a leitura e o ruído (mesmo os romances ruidosos de Martin Amis exigem silêncio). Por isso, perdendo-se a leitura perder-se-á também uma parcela importante de silêncio, com certeza um dos seus últimos redutos. Pode até acontecer que estrangeiros cósmicos baptizem a Terra como o planeta do ruído supérfluo.
Isto não é um epifenómeno, pela leitura fazemo-nos maiores, é esse o milagre, que agora se troca pelo ruído, por vocalizações elementares, por formas de comunicação multiformes que privilegiam as imagens, intrinsecamente barulhentas, impedindo ou dificultando a solidão, a reflexão, a contemplação. Estamos na era do homo festivus, o divertimento tornou-se um fim em si mesmo (potenciando a gigantesca indústria do entretenimento). A maioria dos humanos está alienada num hedonismo epidérmico, composto por fluxos imprevisíveis de prazer e um sentido agudo da irrisão em relação à complexidade, ao pensamento profundo.
Creio que os grandes leitores são conservadores, como Borges. Mesmo quando lêem futuristas (James Joyce, Virginia Woolf, George Orwell, Fernando Pessoa, Albert Camus, Garcia Márquez, Thomas More, J. R. R. Tolkien...), parece até que toda a literatura tem o objectivo de abrir portas, inventar mundos e vidas possíveis. Mas não pode fazê-lo sem recuperar alguns códigos já preenchidos com significados extraordinários, uma vasta genialidade de longo tempo compõe a inteligibilidade literária, houve experimentações tão ousadas que continuam a chocar, análises tão finas e precisas que se tornaram indestrutíveis, invenções tão perfeitas que parecem divinas, o passado é por vezes inultrapassável. Claro que há um lado burlesco neste apego, talvez involuntário, ao antigamente. É um pouco isso que diz Steiner sobre Borges: “No fundo, Borges é um conservador, um guarda do tesouro de banalidades caducas, um classificador de antigas verdades e suposições que transbordam dos sótãos da história. Toda esta arquierudição tem os seus aspectos cómicos e discretamente histriónicos.”[1] Mas se não conservarmos nada e se o ruído preencher os novos marcadores de sentido, se uma vaga descontrolada exigir a inovação frenética, o novo pelo novo, servido com estridência, como poderemos perceber a viagem humana, sobretudo aquela que está por fazer? Reconheçamos que existimos na partilha das ideias, as de ontem são tão vitais como as de hoje. Mas também, que só há ligações, temporais e pessoais, inteligentes e gentis se ninguém falar mais alto do que os outros, ninguém ocupar a zona de silêncio, íntima, de ninguém.
[1] Rober Boyers (org.), George Steiner em The New Yorker, Lisboa: Gradiva, 2010, p. 218.