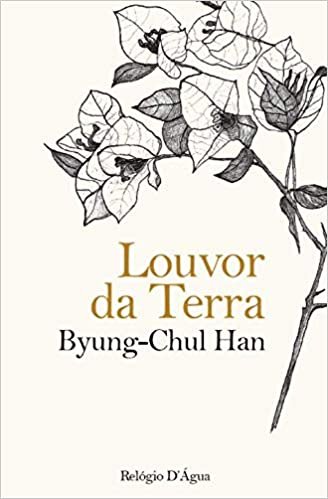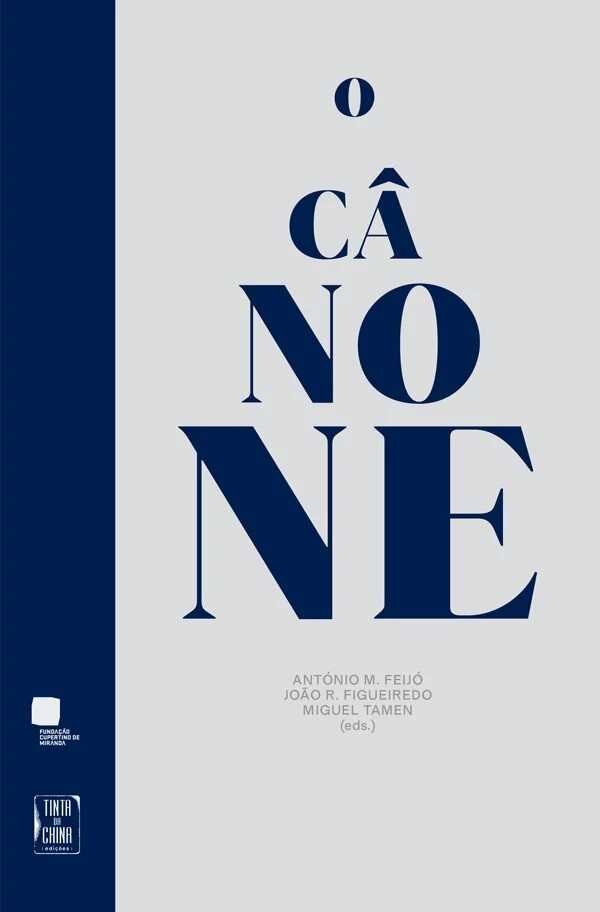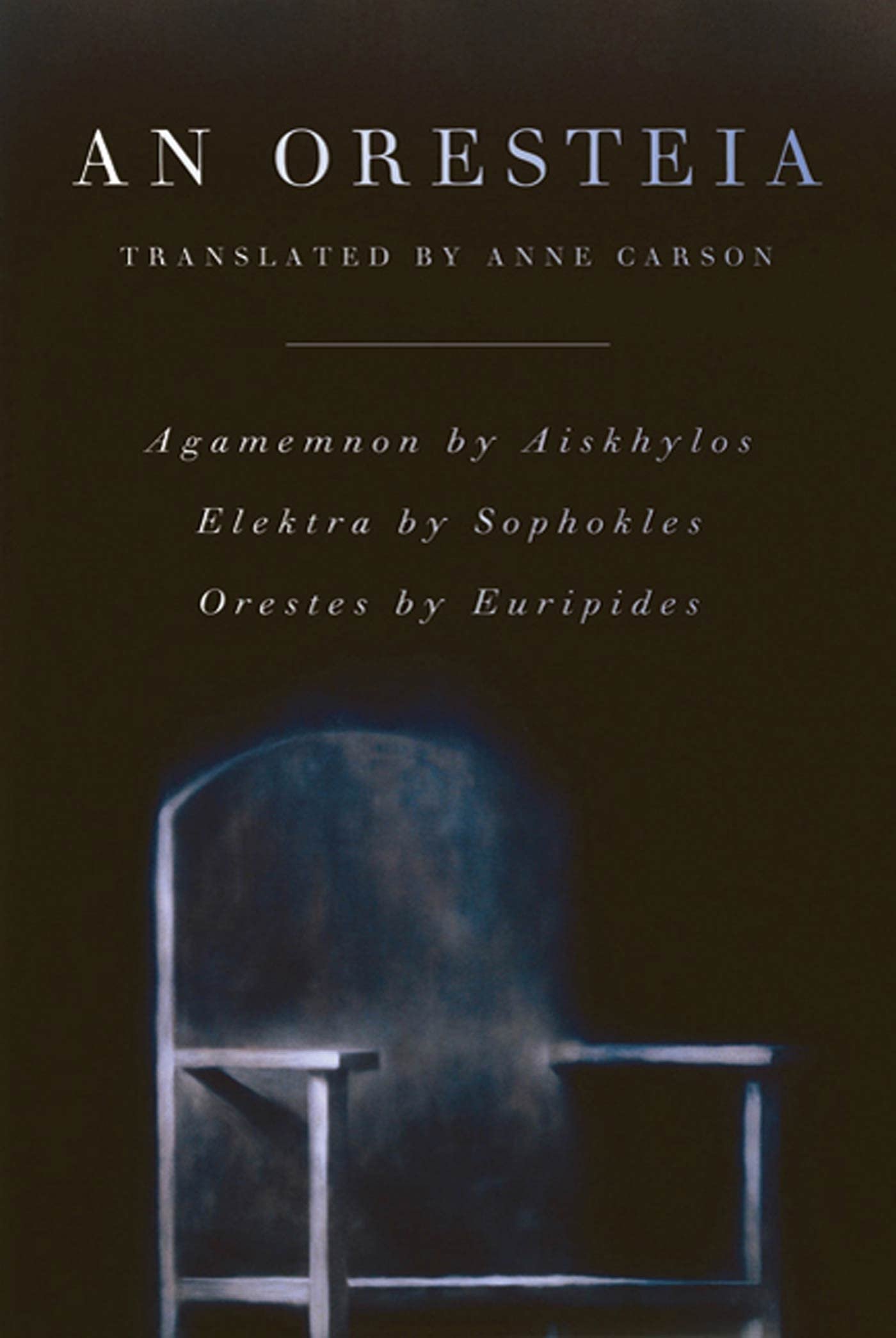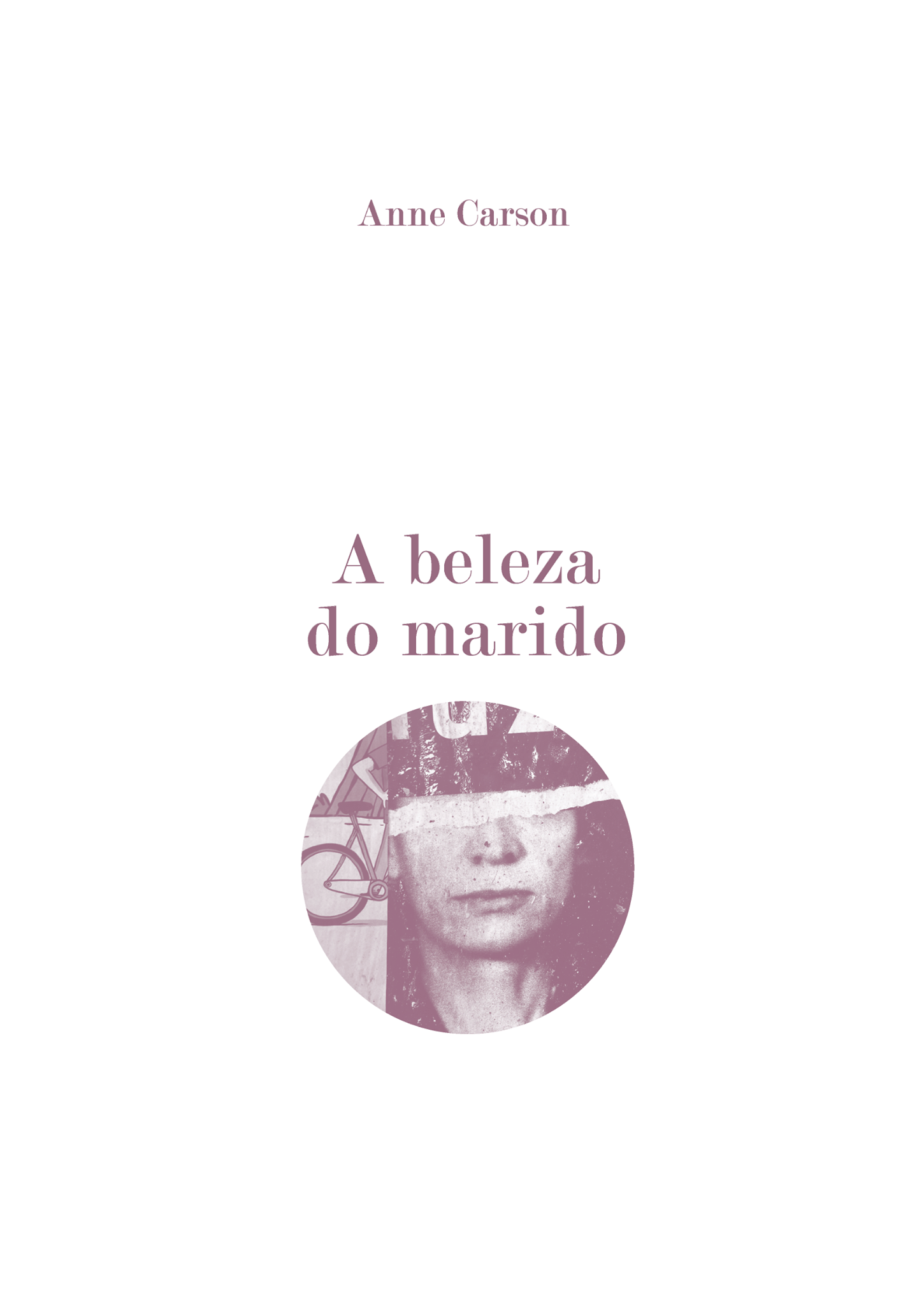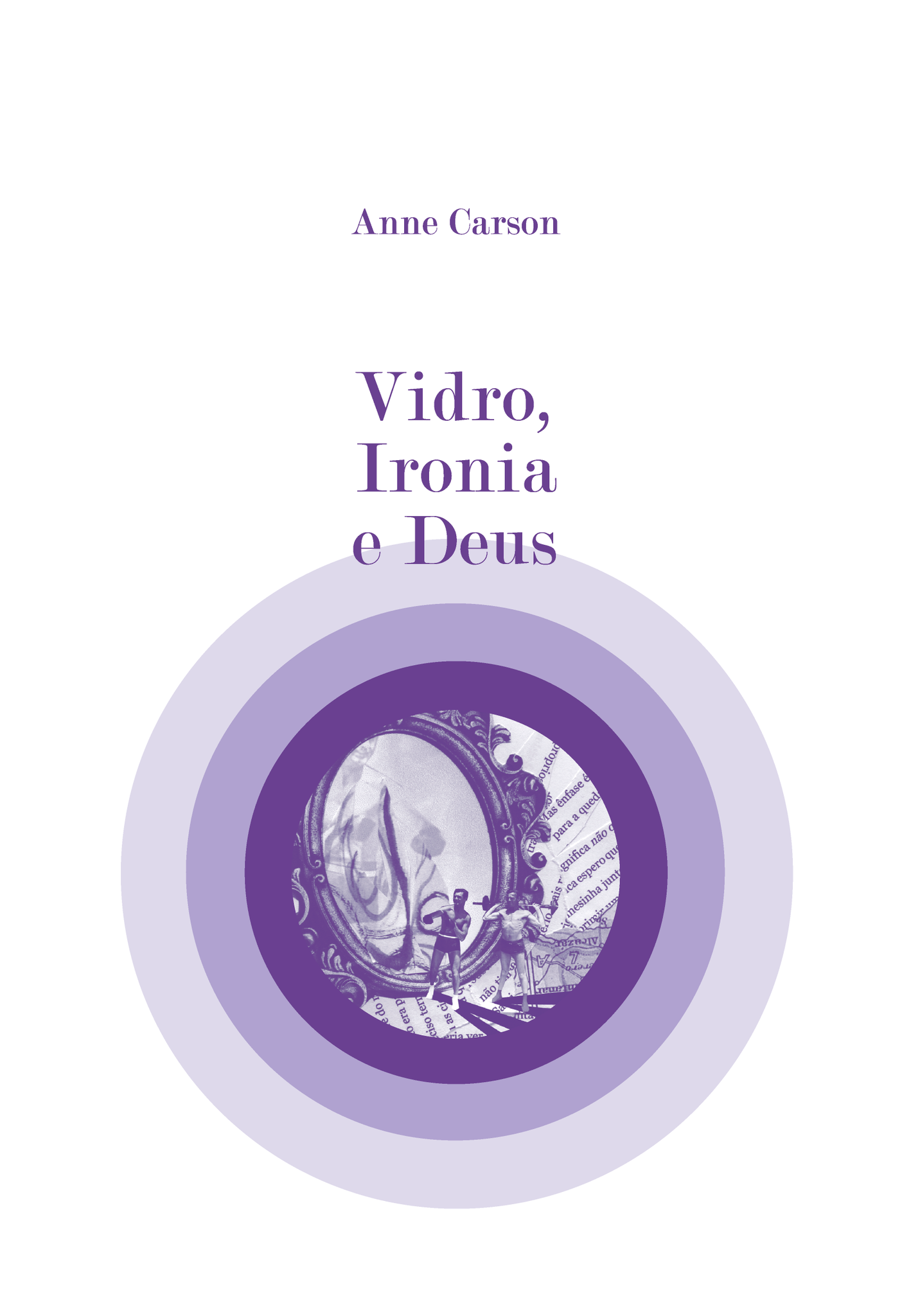«Uma herança lega‑nos sempre subrepticiamente formas de a interpretar. Ela impõe‑se a priori à interpretação que produzimos, transformando-nos quase sempre, numa certa medida, e até um ponto difícil de estancar, em repetidores.» (Jacques Derrida, Du droit à la philosophie, Paris: Galilée, 1990). Em resposta, os críticos da marginalidade pós-moderna — e da sua aposta, bem nietzschiana, em que tudo é interpretação — acusaram várias vezes Derrida de relativista estéril (sobretudo Jürgen Habermas e John Searl). É que Derrida multiplicou os textos de desconstrução das velhas tradições filosóficas, textos sedutores, ainda por cima. O exemplo paradigmático é Glas (Paris: Galillé, 1974), onde pôs lado a lado, na mesma folha, o metafísico Hegel e o mestre da violência metafórica que foi Jean Genet. Tudo em estado puro, sem qualquer nota de rodapé ou citação bibliográfica. Os dois campos discursivos afetam-se mutuamente no espaço que partilham (a folha), manifestam uma heterologia de corpo a corpo, e dessa forma desenvolvem uma (de)formação que os ultrapassa individualmente. Este jogo diferencial entre discursividades heterogéneas faz emergir a própria desconstrução, i.e., o que no interior de cada texto tem a força de o arruinar enquanto depositário de um sentido homológico; mas, ao mesmo tempo, também o projeta para outras possibilidades de sentido. Marca-se, assim, a crise do discurso filosófico logocentrado, numa crítica sem complacência às habituais grelhas discursivas. Para combater a acusação de leviandade filosófica, de falta de rigor ou capacidade sistematizadora, repetiu algumas vezes o que, primeiramente, escreveu no posfácio a Limited Inc («Toward An Ethic of Discussion»), onde deixa claro que nunca encorajou a leitura caprichosa, o dizer «não importa o quê». Por exemplo, uma boa leitura de Rousseau exige, segundo ele, a compreensão progressiva da língua francesa e o conhecimento do corpus rousseauniano e contextos que o estabeleceram e estabelecem.
Mas levado por este jogo de ordem e excesso («Il faut l’ordre e il faut l’excès», Georges Bataille), de determinismo cultural, talvez antropológico, e de desconstrução libertária e provocadora, quero, como quem quer, a medo, a sua parte do saque, pensar um pouco ao lado, exercer, talvez, uma pequena desconstrução sobre Derrida. Sigo em parte Michel Foucault e recupero algumas ideias dos últimos anos, presentes também aqui na Enfermaria 6.
É possível tornarmo-nos estranhos a nós, interpretar de forma livre não se funda, ao contrário do que muitos dizem, no aprofundamento da soberania do Eu. O Eu é sempre um produto histórico, um patchwork, com camadas de preconceitos, da época, da cultura, ou culturas, dominante (ou, sendo minoritária, com suficiente força para desenhar sentidos próprios). Por isso, na procura quase insana de uma verdade universal, Descartes, e depois a fenomenologia husserliana, pretendia que o Cogito fosse estritamente racional, sem contexto, uma fábrica divina de algoritmos autossustentados. Tratava-se, pois, de desencarnar o homem, de o des-historizar (compreende-se o anti-cartesianismo de Ortega e Gasset quando diz «Eu sou eu e a minha circunstância»), de o purificar, epistemologicamente, primeiro, e depois, talvez, ontologicamente. Seria um ser sem as «paixões da alma».
Regressemos ao Eu como produto da situação, de um processo de subjetivação (o «para-si» de O Ser e o Nada de Sartre) alimentado pelo exterior. Sabendo isso, como tornar nossa parte das interpretações, evitando reeditar constantemente o que já se pensou e disse? Há exemplos que podemos seguir, emulando-os mais do que imitando-os. Indico o de Michel Foucault e o seu trabalho metódico para se tornar outro, pensar de outra forma (como Nietzsche queria que cada um fosse, uma força permanente de autossuperação). Na década de 60 do séc. xx escreveu sobretudo sobre literatura (Raymond Roussel, Georges Bataille e Maurice Blanchot), a morte do autor e do próprio homem (Les Mots et les Choses). Depois, consagrou-se à questão do poder (Surveiller et punir e Histoire de la sexualité — La volonté de savoir). Na década de 80, regressou ao sujeito a partir da Grécia Antiga, (L’usage des plaisirs, Le souci de soit e vários cursos no Collège de France); mas não o fez para glorificar os gregos ou esboçar um manual de autoajuda, antes para que o sujeito se reinventasse, porque estudá-los permitia desenvolver uma estranheza em relação a nós.
Ora, este «estranhamento» é a melhor forma de nos libertarmos dos preconceitos que conduzem as nossas interpretações. Trata-se, pois, de nos desfazermos do que somos, reavivar o nosso processo de subjetivação, superar-nos, advir outros, reconfigurar as mil-folhas que enquadram a nossa visão do mundo, estimulando um pensamento livre (uma liberdade em situação, nada que ver com o cogito cartesiano ou a subjetividade transcendental kantiana). Desejarmos ser mais margens do que uma centralidade ruminante e redundante. É que não somos somente um labirinto de segredos ou um catálogo de categorias, mas sobretudo exterior, exteriorização, o íntimo foi abusivamente sobrevalorizado (Freud, Estruturalismo…). A vida é um campo dúctil, modificável, a ética de Foucault, o ethos fabricado de cada um, seria o resultado de um trabalho pessoal sobre si («techniques de soi»), um esforço de transformação, de apropriação de novas formas. Pensar é um artesanato que vai compondo cada indivíduo, na sua relação com os outros e com o mundo, ou melhor, com a Terra.
Mas não haverá aqui mais do mesmo? Esse exercício de libertação não será ainda uma astúcia, mais subtil contudo, das várias instâncias de condicionamento? Talvez, mas vale a pena arriscar, pormo-nos a andar de lado, obliterar o que somos, desconstruir as caixas onde nos vão, e nos vamos, colocando.
Que o horizonte de expetativas futuro seja o de sermos heterodoxos canonizados.