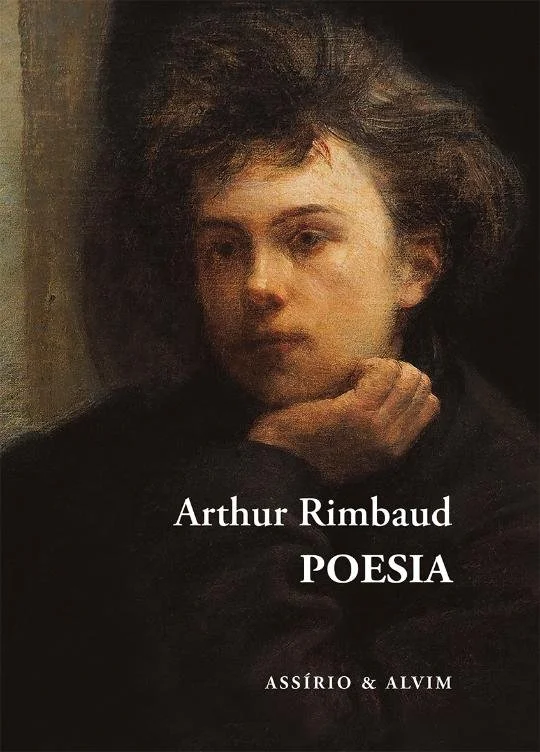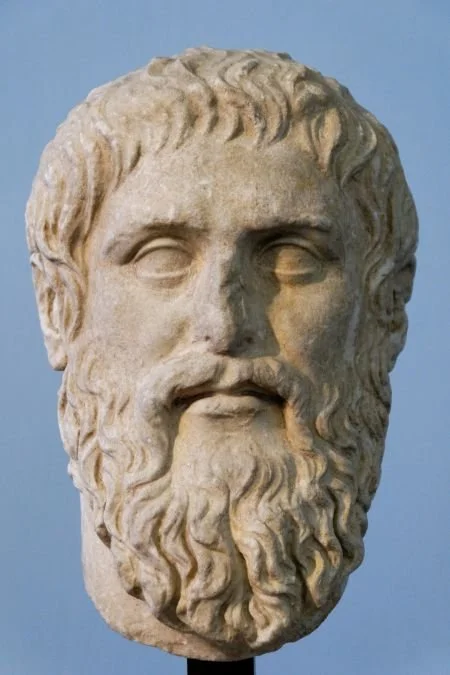Sabe-se que não é fácil chegar a Ítaca. Definitivamente não se chega a Ítaca nem lendo o final da Odisseia de Homero nem o de Odisseia: uma sequela moderna de Kazantzakis, nem sequer indo à procura de Ulisses no Canto 26 do Inferno de Dante. Isso também não resolve nada, embora esse possa bem ser o Ulisses mais certeiro de todos, aquele que é até mais homérico do que o Ulisses de Homero.
Tenho alguns problemas com Ulisses. O maior deles começou naquelas páginas de As Núpcias de Cadmo e Harmonia em que Roberto Calasso narra a vingança deste sobre Palamedes. Talvez não muita gente se lembre deste aspecto do mito quando se fala do Ulisses homérico, mas esse Ulisses que se vislumbra nos Cipria, um dos livros que colige outras histórias do mundo de Homero, é o das vinganças hábeis e ardilosas, longamente planeadas, o mesmo que no final da Odisseia é capaz de chacinar todos os pretendentes e todos os que ajudaram os pretendentes. Apolodoro e Higino, autores mais tardios, haveriam de contar a história da vingança sobre esse tal de Palamedes que, diz Calasso se não me falha a memória, era o único no mundo arcaico que tinha exactamente a mesma inteligência que ele.
Ulisses não se parece em quase nada com os reis que vão para Troia. Para começar, é um rei pobre. Confirmam-no o catálogo das naus no Canto 2 da Ilíada (o livro mais chato do poema), que diz que Agamémnon era comandante de cem navios e que Ulisses era o comandante de um contingente de guerreiros cefalónios e de apenas doze navios de proa vermelha. Talvez a pobreza de Ulisses também se vislumbre na sua preocupação, ao longo da Odisseia, com a economia, que é uma palavra que vem de oikos, grego para casa, de não perder os seus despojos de guerra e de angariar mais pelo caminho.
Os mitos contam que quando os gregos vieram em busca de Ulisses a Ítaca, ele se fingiu de louco para que não o arrastassem para uma guerra em que ele não queria combater porque não era a dele. Há qualquer coisa, parece-me, de dionisíaco na figura de Ulisses. Vê-se isso nesta recusa inicial, inaudita entre os outros capitães dos gregos. Percebe-se aqui como ele ama viver e sobreviver através de todos os desaforos. Há qualquer coisa de absurdamente desmedido (desmedido também no sentido de fora dos limites sociais) no seu amor a uma arte de perdurar e de ser. Isso assoma no seu desespero melodramático, nas muitas lágrimas derramadas pelo caminho, durante a longa viagem de regresso, mas essa coisa desmedida talvez apareça sobretudo naqueles versos no Canto 13 da Odisseia em que ele pede a Atena que ela o ame mais quando ele regressar a casa e tiver de enfrentar os pretendentes do que em qualquer momento anterior de qualquer uma das suas aventuras. Ou quando ele recusa a imortalidade que Circe lhe oferece para, em vez disso, voltar a casa. Como é belo ser um mortal e poder ir morrer junto de quem nos amou, regressando através de quase tudo, com uma clareza que ultrapassa o próprio medo de morrer. E que sorte extraordinária conseguir encontrar isso no decurso de uma vida, que às vezes é tão curta e tão cega que não dá para quase nada.
É Palamedes quem interrompe o curso doméstico em que Ulisses estava, a mulher e o filho e a pequena prosperidade de Ítaca, e muda o seu caminho para sempre, porque é Palamedes quem, enquanto Ulisses se faz de louco diante dos dignatários dos gregos, fingindo-se de boi e lavrando com um arado um campo, sugere que se coloque no seu caminho o filho de Ulisses, o bebé Telémaco. Ulisses então não tem como continuar a fingir e tem de parar com o teatro. Mas ele não se esquece de Palamedes e não só causa a sua morte em Troia como lhe dá uma morte infame.
Já em Troia, Ulisses forja uma carta do rei Príamo, na qual promete a Palamedes uma determinada soma em ouro se este traísse os planos dos gregos. Ele esconde depois essa mesma soma na tenda de Palamedes. Palamedes é denunciado a Agamémnon, o ouro é encontrado na sua tenda e os gregos apedrejam-no até à morte. De todos os meus problemas com Ulisses, o primeiro é esta história. É precursora, em termos de cronologia mitológica, da chacina dos pretendentes, mas sobretudo da chacina, desnecessária e excessivamente cruel, das escravas que trabalhavam em sua casa. É um daqueles gestos que expõe a raiz profunda da crueldade humana enquanto paixão demasiado arcaica. Não é rara em Ulisses. É um traço da sua natureza. Surge, por exemplo, no modo como ele espanca violentamente Tersites no Canto 2 da Ilíada. Há na figura de Tersites qualquer coisa da alma de um sátiro, o que está também provavelmente inextricavelmente ligado ao facto de que ele vem de uma classe social mais baixa do que as outras personagens que intervêm no episódio da briga entre Aquiles e Agamémnon, mas Ulisses silencia Tersites à pancada, batendo-lhe violentamente com o ceptro nas costas.
Há, ainda na Ilíada, o modo como ele trata Dólon, o espião troiano cujo nome partilha a etimologia com a palavra dolo. Como ele e Diomedes no Canto 10 do poema, um canto que se chama “Canção de Dólon,” que tende a ser visto como uma anomalia no poema porque é um livro que estamos quase certos de que é apócrifo, existindo sobretudo para que reparemos em Ulisses. O livro conta como os dois gregos capturam Dólon, de como ele lhes implora que o poupem, oferecendo-se para pagar o seu próprio resgate. Ulisses diz-lhe para ele não se preocupar com a morte, fá-lo contar-lhe todos os segredos dos troianos e deixa que Diomedes o degole no fim, quando Dólon está de joelhos, prestes a fazer o gesto ritual dos suplicantes: tocar os joelhos e a barba daquele a quem se suplica. A descrição mais precisa de Dólon não vem na Ilíada mas em Memorial de Alice Oswald, um livro que colige e expande os epitáfios das muitas personagens menores que surgem no poema:
What was that shrill sound
Five sisters at the grave
Calling the ghost of DOLON
They remember an ugly man but quick
In a crack of light in the sweet smelling glimmer before dawn
He was caught creeping to the ships
He wore a weasel cap he was soft
Dishonest scared stooped they remember
How under a spear’s eye he offered everything
All his father’s money all his own
Every Trojan weakness every hope of their allies
Even the exact position of the Thracians
And the colour and size and price of the horses of Rhesus
They keep asking him why why
He gave away groaning every secret in his body
And was still pleading for his head
When his head rolled onto the mud
Acho às vezes que a história da carta de Palamedes corre o risco de ser apócrifa porque se menciona a tecnologia da escrita e esta parece ser, no mundo homérico, rara e insipiente. A única vez em que é mencionada, no Canto 6 da Ilíada, é também na história de traição e vingança. O herói Beleforonte transporta com ele a carta que ordena a sua própria morte às mãos de um aliado do rei Proteu, porque Anteia, a mulher deste, acusara falsamente Belerofonte de a tentar violar. A melhor discussão deste episódio é, claro, a de Anne Carson em Eros, the bittersweet.
Há um mito das origens obscuras que atribui ao próprio Palamedes, em conjunto com Cadmo, a invenção de algumas das letras do alfabeto. Também se lhe atribui a invenção do jogo dos pessoi, espécie de precursor dos jogos das damas e dos dados, para que os soldados gregos matassem o tempo em Troia. Palamedes terá sido então responsável, antes de Ulisses o matar, pela inauguração da longa, e frutífera, relação entre o vício, o desejo, a esperança e a inteligência.
Não sei, e talvez não haja maneira de saber, se Cesare Pavese terá pensado nesta tradição quando faz Circe dizer, no diálogo “Le streghe” de Dialoghi com Leucò:
Quello che mai prevedo è appunto di aver preveduto, di sapere ogni volta quel che farò e quel che dirò – e quello che faccio e che dico diventa così sempre nuovo, sorprendente, come un gioco, come quel gioco degli scacchi che Odisseo m’insegnò, tutto regole e norme ma così bello e imprevisto, coi suoi pezzi d’avorio. Lui mi diceva sempre che quel gioco è la vita. Mi diceva che è un modo di vincere il tempo.
Às vezes, relendo esse livro de Pavese, acho, como muitos críticos de Cesare Pavese acharam, que Ulisses é a figura central e tutelar deste que talvez seja o seu melhor livro. Pavese dizia sobre os Dialoghi que eles coligiam as personagens e as situações do mundo clássico que tinham capturado a sua imaginação enquanto aluno de liceu. Ulisses aparece, de resto, num diálogo anterior, “L’isola,” onde conversa com Calipso, no momento em que, em Ogígia, ela lhe oferece a imortalidade e insiste para que ele a aceite. A ler Pavese repara-se, nas linhas finais do desse diálogo, que Ulisses é o herói, na ordem do mundo, para todos os pós-guerra (os diálogos foram escritos entre 1945 e 1947):
ODISSEO Saprò almeno che devo fermarmi.
CALIPSO Non vale la pena, Odisseo. Chi non si ferma adesso, subito, non si ferma mai più. Quello che fai, lo farai sempre. Devi rompere una volta il destino, devi uscire di strada, e lasciarti affondare nel tempo…
ODISSEO Non sono immortale.
CALIPSO Lo sarai, se mi ascolti. Che cos’è vita eterna se non questo accettare l’istante che viene e l’istante che va? L’ebbrezza, il piacere, la morte non hanno altro scopo. Cos’è stato finora il tuo errare inquieto?
ODISSEO Se lo sapessi avrei già smesso. Ma tu dimentichi qualcosa.
CALIPSO Dimmi.
ODISSEO Quello che cerco l’ho nel cuore, come te.
Há qualquer coisa de espantoso nesta última linha. Ulisses define, com este lirismo intenso e oracular que é o tom característico dos Dialoghi, a coisa em que mortais e imortais se igualam. E talvez esteja aqui a dizer que não há maneira de abandonar Ítaca, porque ela nunca o abandona.
Kavafis sabia isso sobre Alexandria enquanto Ítaca. Naquele que é talvez o seu poema mais famoso e mais citado, escrito originalmente em 1910, lemos que é preciso abandonar Ítaca, amar a longa viagem, para no regresso entender o que significam as Ítacas. Este plural em Kavafis, Ιθάκες, de resto, sempre me divertiu. É de uma ambiguidade que expande o mundo e consegue, ao mesmo tempo, ser intimamente kavafiana. O plural aqui tem, claro, a força retórica do universal, mas acidentalmente deixa implícito que existem várias Ítacas possíveis, desarruma Ítaca um pouco da sua sentimentalidade absoluta de lugar único. No último verso desse poema até Ítaca de alguma maneira viaja, ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν. Quando o mais natural na ordem do verso seria que Ítacas fosse a última palavra, em vez disso é a expressão “que significam.” O verso significa, à letra, “então terás entendido as Ítacas o que significam.”
Nunca estive em Ítaca. Ainda não consegui lá chegar. O mais perto que me senti de Ítaca, não geograficamente falando, foi na ilha de Corfu, cujos habitantes reclamam ter sido a ilha dos Feaces. É uma das ilhas da Grécia com uma das capitais mais belas que conheço, mas é hoje incrivelmente pouco hospitaleira, pouco real, completamente monopolizada pelo turismo. Nem os fantasmas de Lawrence Durrell e Henry Miller se entreveem quando passamos pelos lugares por onde eles andaram, nem mesmo sequer quando nos sentamos nos bares dos terraços dos hotéis onde eles se sentaram, onde não teriam, hoje, dinheiro suficiente para se embriagarem tão completa e confortavelmente como o fizeram no tempo em que por lá andaram.
Acho que um dos momentos mais extraordinários da Odisseia tem qualquer coisa a ver com embriaguez. É o encontro do filho de Ulisses com Helena, transformada em farmacologista, drogando os soldados para que eles se esqueçam da dor que trouxeram de Troia.
Helena sobrevive à guerra, reinventa-se ao lado de Menelau. Mas e Penélope? O que dizer dela quando pede a Ulisses que não se zangue, quando lhe faz o teste final para tentar entender se ele é mesmo ele – percebemos então que há pelo menos mais uma personagem, além de Palamedes, cuja inteligência é como a de Ulisses –, pedindo a uma serva que mude de lugar a cama de ambos, imóvel para sempre porque esculpida num carvalho ainda no centro da casa, e ele com angústia se zanga, porque que homem podia ter mudado de lugar uma cama que ele mesmo construíra? E ela pede-lhe para que ele não se zangue, que se os deuses já não os tinham deixado em paz para passarem a juventude juntos, que ao menos ficassem juntos durante a velhice. Existe uma outra odisseia nesses versos de Penélope, entendemos o que é que foi perdido, porque é que Ulisses queria ir enganar os gregos e não queria partir. Porque é que ele nunca é exactamente como eles, nem na Ilíada nem na Odisseia.
Foi no pequeno museu municipal de Kerkyra, ao mesmo tempo o nome grego de Corfu e o nome da capital da ilha, às moscas para lá do jardim com as estátuas de Gerald e Lawrence Durrell, que vi pela primeira vez as mulheres dos mitos antigos e as mulheres contemporâneas da pintora Vasso Katraki (1914-1988), a sua Antígona sepultando o irmão e as camponesas anónimas e as mulheres grávidas, corajosas e sozinhas, ou mulheres com os filhos, ou retratos esquemáticos de famílias, com qualquer coisa de neorealista, que fazem pensar em migrações sasonais, casas e regressos, que ela desenhou entre o período da Guerra Civil e da Ditadura dos Coronéis.
Quando estive no pequeno porto de Fiskardo, em Cefalónia, onde se pode apanhar o barco para o também minúsculo porto de Frikes em Ítaca, essas imagens de Vasso Krataki ainda não estavam comigo, eu ainda não as tinha visto. Não cheguei a apanhar esse barco para Ítaca. Mas nadei nas correntes ao longo dessa extensão de costa, onde a água é de um azul transparente, e a nossa sombra é reflectida no fundo do mar. Tatiana Salem Levi tem uma descrição muito precisa, em Vista Chinesa, desse tipo de mar, ela diz que ele “não se parece com o pórtico de um reino profundo e misterioso.” Mas as correntes nessa costa de Fiskardo enganam bem: afastarmo-nos um pouco basta para sentimos a força obliterante do mar e o receio de não conseguir voltar à praia. É fácil então pensar nos muitos naufrágios de Ulisses. Tenho tido a intuição, em certos momentos de viagens, em horas letárgicas, passadas em barcos e aviões, de que estamos aí tão isolados, tão inacessíveis, que não fazemos exactamente parte do mundo dos vivos. É só à chegada ou no regresso que tornamos a existir. Este é, claro, em parte, o drama de Ulisses.
Por causa da geografia de Ítaca descrita na Odisseia, muitos arqueólogos suspeitam que Ítaca e Cefalónia estavam ligadas na antiguidade, e que a Ítaca homérica ficava, na verdade, em Cefalónia, uma ilha hoje quase sem passado, com apenas duas aldeias antigas, porque é muito propícia a terramotos. O maior dos mais recentes, na década de 1950, destruiu a ilha quase por completo.
Nunca vi, então, Vathi, a bela cidade que é hoje a capital de Ítaca. Concluí, no entanto, por cálculos não muito complicados, que a maneira mais fácil de lá chegar, a partir de Atenas, é apanhando o comboio para Patras, que faz a sua travessia por uma paisagem que não vejo há quase tanto tempo quanto Ulisses não viu Ítaca: através do golfo de Corinto, com os seus ecos dos mitos em torno de Édipo e com os laranjais do Peloponeso do outro lado. Chegando a Patras é depois fácil apanhar o barco para o porto de Aetos. Há pelo menos um barco por dia.
Oxford, 16 e 18 de Junho de 2023