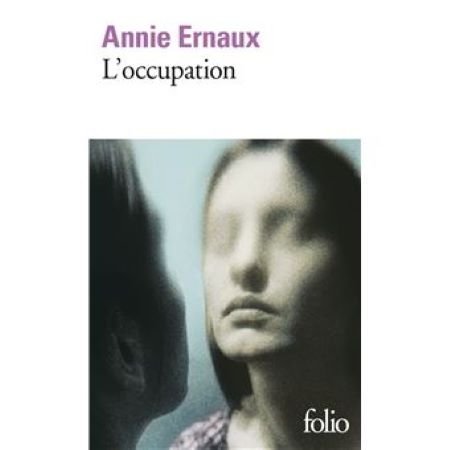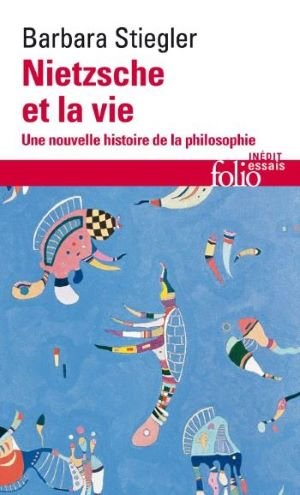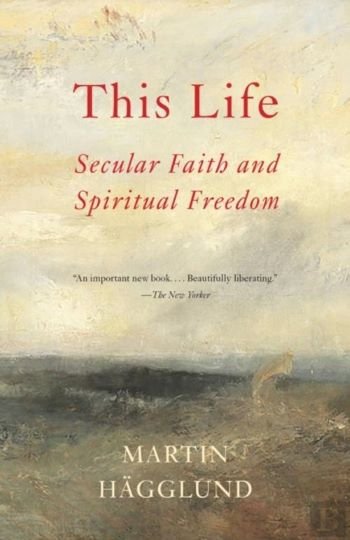Leituras 2022, Victor Gonçalves
/Estes são alguns dos livros que li em 2022 (cuidado, há imensas obras boas que não li, algumas nem sei que existem). Os que me acompanharam mais tempo (vital mais do que cronologicamente), se encrustaram na minha existência. São agora sangue do meu sangue. Mesmo quando não me lembro exatamente deles (quem se recorda dos glóbulos brancos que tem?). O gosto é muito pessoal, embora a filosofia nos ensine o contrário. E não gostamos da mesma maneira ao longo do tempo. Isto relativiza a minha lista, que talvez seja mais impressionista do que expressionista, isto é, pegando com muita liberdade nestes termos, dou a conhecer o que, de uma forma ou de outra, fez vibrar uma corda qualquer no meu corpo-mente, não sabendo muito bem como comunicar, expressar, isso.
A comunicação é tanto mais difícil quanto a leitura é uma atividade minoritária, experimental. Só se pode ler, pelo menos de uma determinada maneira (intensivamente), quando se é incorrigivelmente livre (um exílio sem suplício). E sabe-se que a liberdade pode ser injusta, porque é feita com centelhas divinas, enquanto a justiça se compõe, mesmo quando a atribuímos aos deuses, de interesses humanos, demasiado humanos.
Traduzo o início: «Sempre quis escrever como se devesse estar ausente no aparecimento do texto. Escrever como se devesse morrer, não houvesse mais juízes. Ainda que seja, talvez, uma ilusão acreditar que a verdade só possa surgir em função da morte.
O meu primeiro gesto ao acordar era agarrar o seu sexo tumeficado durante o sono e ficar assim, como que pendurada num ramo. Pensava: “enquanto segurar isto não estou perdida no mundo”. Se hoje refletir sobre o que esta frase significava, parece-me que queria dizer que não havia nada mais para desejar além disso, ter a mão agarrada ao sexo desse homem.
Está agora na cama com outra mulher. Talvez ela faça o mesmo gesto, estender a mão e segurar o sexo. Durante meses, vi essa mão e tinha a impressão de que era a minha.»
Um estilo irrepreensível (não abunda na filosofia, mais pela dificuldade de moldar conceitos e filosofemas a uma fluidez e beleza literária do que pela simples falta de mão dos filósofos) e uma audácia assinalável. Convoca e expõe Descartes, Kant, Schopenhauer, Hegel e Marx, Darwin, tanto quanto os mais contemporâneos William James, John Dewey, Bergson, Ganguilhem e Foucault ou ainda Husserl e Heidegger para com eles e sobretudo Nietzsche tecer um novo fio condutor da filosofia a partir da vida e do corpo. Uma filosofia crítica, questionadora das diferentes ciências da vida. No centro da argumentação está que Nietzsche é um precursor, um meteoro fulgurante em diálogo consigo e contra a velha metafísica; o grande renovador de uma antiquíssima e quase revogada ciência fisiológica que dominou a Grécia pré-clássica.
Recensão aqui.
Um conjunto de artigos de jornal. Não é um grande Sloterdijk, mas aí está ele a apanhar, catalogar e desmontar (desconstruir) o fluxo da vida (bio-sócio-mental), as consonâncias e dissonâncias dos ecossistemas humanos, com raízes profundas no passado e uma inclinação enérgica para desenhar futuros que prolonguem criticamente o presente. Um criticismo que tanto conserva como altera. Sloterdijk considera-se, tenha-se presente este rótulo, um «conservador vanguardista» ou um «nietzschiano de esquerda».
A saída da tradução portuguesa está agendada para meados de 2023 (Edições 70). O livro de 1947 foi escrito sobre os escombros e a partir da imensa esperança pós 2.ª Guerra Mundial. Mas também suplementa O Ser e o Nada (talvez o capítulo sobre a moral que Jean-Paul Sartre diz faltar à sua fenomenologia existencialista). No essencial, é porque nada está decidido de antemão, porque a possibilidade de fracasso é real, frequente e a liberdade individual intransmissível que considera o existencialismo como «a única filosofia na qual uma moral tem lugar». Nada, pois, de belas-almas, as que Hegel encena na Fenomenologia do Espírito, sem verdadeiramente as censurar, para narrar a preservação da pureza do coração contra a impureza da ação, ou a coincidência entre verdade e vontade, supremo grau de abstração. É também por isto que o livro abre citando Michel de Montaigne, uma forma de criticar as filosofias que dissimulam a ambiguidade. A sua moral revela da «arte de viver» (termo de Os Mandarins, 1954), homens e mulheres comprometidos, reconhecendo e agindo na contingência dos projetos e valores. Esta moral da ambiguidade mantém uma real força operatória.
Recensão aqui.
Um nova e esplêndida tradução de António Sousa Ribeiro, com uma introdução, suada, da minha lavra, pode ser lida aqui.
«Mais um», dizem alguns sem entusiasmo. «Jubilatório», dizem outros, talvez mais pessimistas e escondidos nas entranhas da Terra a imaginar os sismos que vão sacudir a pobre humanidade. Um pessimismo da força, como desejava, e tinha visto nos gregos antigos, Friedrich Nietzsche? Na voz de Lobo Antunes, cujo eco permanecerá vivo por longos anos: «procura o braço, a veiazinha, a veiazinha, até que um pingo vermelho, mais escuro do que eu imaginava, floriu devagar na ponta da seringa sob um nariz atento, tantos narizes nos hospitais, senhores, tantos indicadores macios avaliando-me a pele, tantos olhos sem nada dentro, ocos». Houve quem o catalogasse como poesia camuflada, um infinito monólogo que trata a linguagem à semelhança de um código rúnico, uma caixa de ferramentas para abrir a porta de um Além. Talvez. Mas continua a ser também um modo, originalmente assustador, de cartografar este país cheio de humanos melancólicos e fatais, de o cartografar por dentro, os espaços interiores que nos consomem e empurram para um Dom Sebastião burlesco.
Häggund, filósofo e outras coisas mais (ninguém é só filósofo), escreve sobre temas importantes e complexos de modo que todos, ou quase, os possam compreender. Faz desaparecer, é verdade, as perspetivas mais enviesadas, «talvez as que nos atiram para fora da caixa, as que alimentam os centauros», dizem alguns, com certa razão. Mas não simplifica, como muitos outros, até ficar tudo anódino. Neste livro, aponta para uma nova «religião civil», a partir e contra Rousseau (o conceito é dele), porque lhe mistura Ludwig Feuerbach, anticristão mas não anti-religioso. Para o autor, temos de concentrar-nos no finito, é nele, e só nele, que devemos encontrar o sentido para a nossa existência. Um sentido para o nosso tempo biológico e para o rasto do nosso legado. No primeiro caso, a realização e a liberdade pessoais e as relações interpessoais formam a base para uma existência conseguida. No segundo caso, nada melhor, e mais urgente, do que preservarmos a Terra, legarmos uma Terra habitável às futuras gerações de seres vivos. Para isso é preciso travar um combate secular (secular faith), motivados pela real possibilidade de perda de sentido na nossa existência, o desaparecimento dos que amamos, a degradação irreparável da Terra. Por exemplo: «This is not to say that we care about the Earth only because it can be lost. If we care about the Earth it is rather because of the positive qualities we ascribe to it. However, an intrinsic part of why we care about the positive qualities of the Earth is that we believe they can be lost, either for us or in themselves.»
Há já uma tradução portuguesa na Temas & Debates.
Um livro que, nas palavras do autor, homenageia Novalis, os seus fragmentos publicados na revista Athenaeum (irmãos Schlegel). Grande parte dele é constituído por órgãos recuperados de outros corpos: Teoria do Fantasma (Mariposa Azul, 2011) e Imagens Roubadas (Enfermaria 6, 2017). Mas também recicla (essa forma de reformatação que recusa a violência das ontologias duras) textos publicados ou simplesmente anotados. Parece, pois, compor-se um novo ecossistema textual a partir de fragmentos de sentido que orbitavam noutras constelações. E sabe-se como essas injunções são por vezes paradoxais. Paradoxo, talvez, mas enquanto para-doxo, isto é, o que está na margem da doxa, corre paralelo à opinião plana. É que cada fragmento de Fernando Guerreiro (podem ser lidos como blocos festivamente autónomos, mas não forcem o solipsismo, eles dialogam, fazem circular entre si o logos, mesmo quando estão de mau humor) tem uma incontrolável força heurística interior. Ora porque nos dá a repensar o corpo, as imagens ou a linguagem; ora porque refaz a economia da vigília e do sonho; ora porque põe o cinema a investigar a realidade, alargando os seus modos de funcionar; ora porque a literatura, a poesia são analisadas como o que é demasiado grande para ser perfeito. Além disso, o modo como Fernando Guerreiro escreve é de uma inquietante e bela estranheza; por um momento todos somos levados a dizer: «era assim que gostava de escrever». Nas suas palavras: «As três experiências decisivas da minha “entrada” (imersão) no fantástico: 1) aos 4/5 anos, a explosão da pedreira em Vialonga, com as suas imagens (não sei se vistas ou imaginadas) de mutilação (cabeça, perna ou braço esmagados de um dos trabalhadores); 2) em 1978, o arrêt sobre a imagem da possível queda das rochas de Odeceixe (deu-se?, não se deu?) que ainda hoje (sobre)determina o meu sentido de “realidade”; 3) já nos anos 80, a visita do fantasma de A., em sua casa, um ou dois dias depois de ter morrido, quando o corpo ainda se encontrava numa divisória perto daquela em que me encontrava. Tudo o que foi experiência é agora cenário do Fantasma.»
Recensão aqui.
Um livro de poesia das não (edições) que acompanha os desejos de Ricardo Marques entre 2012 e 2021. Não se deve usar o bisturi analítico na poesia, ela é porventura a arte na qual o leitor mais se emancipa do crítico (e do autor). Se me pedissem para falar de Desidério, diria: Ricardo Marques vê, é isso que escreve, o desejo como a mais bela das pulsões. Não o desejo desbragado ou heroico (pícaro?), mas o das pequenas coisas, das moléculas, talvez dos átomos da vida. Instáveis, porém: «a contradição ou a impureza é uma condição essencial ao desenvolvimento». Um desejo de celebrar: «Mas vá, eu não te / quero impressionar, nem /consumir-te, só celebrar-te». Um desejo de habitar a vida no esplendor das tensões dionisíacas calmas e na homenagem aos gestos de criação com que o humano rasga a vulgaridade a que se destinou. Mas recuperar também um apolíneo que se deixou de adivinhas e arrumou o arco e as flechas: «Ficar para sempre como / o amante à espera no / lugar combinado / entre palmeiras pedras / e hera e nunca secar // Viçoso vício: ficar aqui / para sempre.» O seu entusiasmo, apesar de elevar, é sempre regulado, em tempos histriónicos é uma virtude impagável.
Uma crise jubilatória de meia-idade? «isto do ténis / foi uma asneira / não é para nós / belo / mas não para nós / demasiado tarde». Obsolescência dos sonhos. Seja. Mas este livro de José Pedro Moreira, editora Flan de Tal, jogando com o simbolismo de um metal precioso que fica entre o pechisbeque e o adorado ouro, é uma oração à boa resignação, uma autoconservação festiva, doseando primorosamente a melancolia (Cioran?) com a força tranquila estoica. Será também um pedido de contas? Repete-se a ideia de que tudo podia ter sido diferente. Talvez. Mas leio-o mais como um manifesto, sem se declarar, contra o «mais alto / sempre mais alto / até sermos / incapazes de respirar». Respiração interior, do e para o interior. Nessa oxigenação, fonte da vida, não o esqueçamos, sente-se um amor às imperfeições (e isto só a arte o permite). Uma alteração subtil ao costume do José em recensear os hábitos mais corriqueiros do humano, dando-lhes uma sagração poética (apesar do trabalho cada vez mais frequente sobre a memória, memórias, na sua poesia). Testamento vital acerca do que podemos, do que devemos fazer, um balanço e uma escolha das forças que nos permitem ser um Ícaro sem asas. Não sermos devorados pelo sucesso.
Que belo livro de Tatiana Faia (não (edições)), ressuscitando Adriano, e Antínoo, um imperador janus, assim o fez a tradição. A poeta continua enamorada pelos sistemas de vida que fazem com que algo exista, em vez do nada. Parece óbvio, não? Mas perceber a existência das coisas exige uma curiosidade obstinada: uma rua, uma estátua, um livro, uma ideia, uma pessoa… só existem se tivermos essa curiosidade irrefreável de ver como e quanto se emancipam da lista fixa de fenómenos na qual foram presas. Os códigos hermenêuticos, sempre contaminados pelo delírio, estão mais na arte do que na ciência, uma arte para lá do mundo dos artistas (poseurs), uma arte metafísica do aquém. Intuitiva e instintiva, no processo que leva da aposta sobre o que está por trás do véu da normalidade (intuição) até à decisão demiúrgica do batismo, de inserir o achado (que participou na sua própria descoberta, os aventureiros do sentido já não são velhos conquistadores) no jogo vivo e atual das significações (instinto, mistura de fisiologia e de cultura). Portanto, Tatiana Faia interessa-se por fazer muito mais do que uma filologia de Adriano, isso fica sobretudo a cargo do mini-ensaio final do livro. Antes, o grande imperador é um aguilhão para manter excitado o Hermes que habita em nós, sobretudo na Tatiana. É assim que vai à descoberta do mundo, como nessa belíssima genealogia da moeda com a efígie de Antínoo. Ou na «rua adriano». Ou nos «gatos da rua adriano». Além destas arqueologias, mais horizontais do que verticais, Tatiana Faia olha para dentro de si, ou melhor, abre pequenas frechas por onde saem fragmentos, incertos, da sua maneira de ser. Uma dialética pré-hegeliana entre o exterior e o interior. E talvez aqui se encontre o sobrepoder deste livro. Por exemplo: Levantas-te com dificuldade / e seguro-te de pé / cambaleamos juntos / em direcção à varanda / com o teu peso contra o meu / reparo que apenas um de nós / sabe mesmo dançar / e o outro é só bom a fingir // não quero nenhum começo / que não te inclua a ti». Ou: «os meus acidentes / são demasiado / como as minhas vinganças / e como o teu amor».