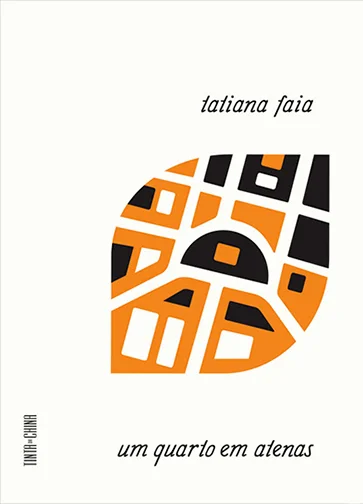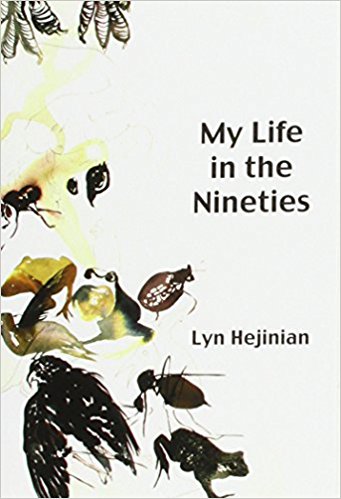“Grande parte da luz de que dispomos sobre a nossa condição essencial e interior
é ainda a que nos proporciona o poeta.” (George Steiner)
I
(Tatiana Faia)
Tenho por Tatiana Faia uma admiração sem reservas, alimentada pelo esplendor do seu pensamento (raramente vi alguém que faça tão poucas concessões às frases feitas, ao mesmo tempo que não tem qualquer prurido em utilizar a linguagem comum, essa que respira connosco) e pela qualidade e coerência éticas: pensa e é, vai sendo, como um raio de luz que atravessa a escuridão.
Um quarto em atenas (Tinta da China, 2018) surge depois de Lugano (Artefacto, 2011), Teatro de rua (do lado esquerdo, 2013) e São Luís dos Portugueses em Chamas (Enfermaria 6, 2016). Durante este período, que pode não coincidir completamente, fez um doutoramento em Literatura Antiga, trabalhando sobre a Ilíada (muito mais do que um livro e só um pouco menos do que um mundo inteiro). Não sei bem de que modo todos estes exercícios de pensamento e de escrita contribuíram para o seu último livro (as obras de arte são feitas de continuidade e ruptura), mas se me fosse dado a ler um quarto em atenas sem qualquer referência à autoria (uma leitura às “cegas”), não a receberia como uma obra inicial, apostaria antes num poeta com muitos anos de vida, alguém com tempo para desenvolver a difícil disposição de apanhar a realidade com uma rede simultaneamente larga e fina, de geometria variável. Larga, porque Tatiana percebe os sismos que abalam o mundo (e hoje tudo é mais instável, embora as tensões eclodam sob o manto uniforme e quase sagrado do consumismo), deslocando-o da órbita que, contudo, terá sempre uma parcela da sua centralidade na Grécia Clássica. Fina, porque se interessa pelo significado das pequenas coisas que compõem o registo mais prosaico da vida humana, materialidade aparentemente pobre, mas sem a qual tudo se esfumaria. Ela dilata o nosso conhecimento da vida quotidiana anónima, muitas vezes mais importantes do que as acções heróicas de meia-dúzia de predestinados. Apesar disto, não descura um estrato metafísico onde se alojam nervos que intensificam – emocional, moral e politicamente – a vida. Por isso, as visões que tem do “Paraíso Terrestre”, declinadas em cinco pontos, não descartam o sem-sentido, a fealdade, o cansaço, a solidão e o equívoco, isto é, não evitam o mundo terreno, mesmo se percebemos que são lugares, ou gestos, ou sons, ou códigos, ou recantos do seu habitat. Digo isto mas é impossível saber-se o significado preciso do seu vocabulário, da sua sensibilidade, das suas ideias, das suas visões. A distância entre o autor e o leitor, mesmo quando exemplarmente mediada pelo texto (Tatiana Faia vive incondicionalmente nos seus poemas), é desmedida. Fico-me, pois, pelo acolhimento de sentidos que julgo corresponderem a qualquer coisa de parecido ao que a autora quis dizer. Apesar de, como refere George Steiner, o leitor manter com o texto uma relação de “recriação e de rivalidade”. Ou, ainda segundo Steiner, e devido ao declínio insofismável da leitura, devesse frequentar um curso, todos devêssemos fazê-lo, para ao menos me aproximar da complexidade de Um quarto em atenas. Sem isso, o meu pacto de inteligibilidade com a Tatiana será sempre frouxo, impertinente talvez, experimental na melhor das hipóteses. Mas uma coisa é certa: quando a lemos, Tatiana deixa-nos mais livres do que nos encontrou, ela tem esse poder mágico de indicar, com sinais que devemos aprender a decifrar, opções de pensamento e de acção que não imaginávamos viver em nós. Se Bukowski tem uma infindável eloquência obscena, Baudelaire uma exultação selvagem, Eliot o desalento belo do fim do mundo e, para referir apenas alguns, Franco Alexandre sacode todo o ruído semântico para que assome um osso poético logicamente imaculado (embora com cintilações inquietantes), Tatiana mostra-nos que há outras pulsões, não necessariamente extravagantes, que imprimem pequenos, mas importantes, acertos à banalidade, o bastante para, como disse, ampliar a nossa experiência da liberdade (sem que precisemos de ser sacanas ou primariamente especistas para ser humanos). E tudo isto, presença densa, numa espécie de eixo horizontal, se cruza com a cartografia interna da autora. Dizem que para se aceder à condição de poeta é preciso criar uma linguagem própria, a poesia seria uma maneira quase privada, embora encantatória, de falar, do interior e do exterior, do além e do aquém, da vida e da morte, inventariando ainda o desastre identitário que nos lastra (por exemplo, a autora deslocou-se – emigrou? – num planeta uno, mas ainda marcado pela obsolescência de pátrias geográficas e culturais, para que alguns possam brincar à geopolítica e as massas se embebedem com narcóticos nacionalistas). Tatiana afasta esta exigência de privacidade, outros o fazem também, claro, mas neste caso sem aquela aparente rebeldia postiça de enfant terrible que declara permanentemente a sua especial naturalidade, normalmente inacessível aos mortais mais comuns. Aliás, para ela, num registo de boa modéstia, “a personalidade é a consequência de um excesso / que encontra a sua própria harmonia”. (“Como Reconhecer o seu Escritor Feliz”) Esta harmonia conduzirá (penso eu) a uma calma resignação que nos coloca ao nível dos restantes seres vivos.
II
(crítica)
Vamos ao óbvio (que devemos continuar a repetir): um crítico não é um maledicente nem um malevolente. Mas conjurado este estigma, não devemos também transformá-lo no seu contrário: um bendizente e um benevolente. Há, como Steiner (é um dos meus gurus actuais, depois de anos a desentender-me com ele), quem exija que o crítico seja um “leitor completo”, capaz de “recriar a obra de arte na sensibilidade crítica”, evitando a trivialidade das impressões arbitrárias. Outros, onde estão bastantes oráculos portugueses, formam autênticos tribunais estético-morais e insistem na ingenuidade ineducável dos criadores. Há ainda quem use uma recensão para expor, sem falhas, toda a sua erudição insípida, desocultando nos originais setas que apontam directamente para eles (espero não me incluir neste bando). Ou, se me permitem convocar Nietzsche (meu eterno companheiro), o crítico ficará sempre assombrado pelo criador, não por um qualquer mecanismo de inveja, mas porque criar é da ordem do milagre (politeísta e sobre-humano).
Mas fiquemos com Steiner (Linguagem e Silêncio. Ensaios sobre a Literatura, a Linguagem e o Inumano, sobretudo pp. 359-386), aquele que melhor serve aqui os meus intentos. O “leitor ideal” procura uma “receptividade completa, uma espécie de vulnerabilidade equilibrada da consciência no seu encontro com o texto.” Parece contraditório falar-se, na mesma frase, em completude e vulnerabilidade, mas sinto que é disso mesmo que se trata: tentar apanhar o texto em toda a sua abrangência (obrigando-se a buscar uma intenção mais vasta do que a presente no estritamente escrito), mas sabendo que ele ultrapassa sempre o leitor, e mesmo o autor. A seriedade hermenêutica é, pois, feita, glosando acidentalmente São Francisco de Assis, de esforço de compreensão e de resignação, um texto e um autor mantêm sempre incógnitas parcelas essenciais de si, sem que isso seja necessariamente premeditado. Bem feita, a “crítica [é] um acto decisivo da inteligência social. O seu trabalho orienta-se, a partir do terreno literário particular, para questões de alcance moral e político mais amplas.” Reforço esta ideia de as sociedades precisarem da “crítica” para o desenvolvimento da sua inteligência (antes disso, claro, deve haver um campo robusto de criação artística e científica).
É por aqui que caminho, às vezes atabalhoadamente. Ler e recriar os autores, respeitando o que quiseram dizer e tentando aumentar um pouco o que fizeram, sabendo, contudo, que a natureza da crítica é ser pessoal, no máximo tem a objectividade que Richard Rorty encontra no “arrepio” que uma obra provoca num dado leitor (com um horizonte de expectativas que não deverá permanecer, os juízos de gosto, ao contrário do que Kant pretendia, são inconstantes, cada geração tem os seus, e mesmo as obras clássicas vão sendo reinventadas). Assim, pretendo, ajudado por um conjunto de conceitos, prolongar até outro campo de inteligibilidade Um quarto em atenas, talvez sintetizá-lo parcialmente, colocando-o nalgumas grelhas categoriais gerais que acompanharam a evolução do pensamento ocidental, apanhar um ou outro desígnio que porventura tenha passado despercebido à autora (a intenção do texto nunca coincide exactamente com a intenção do autor), amplificar um epifenómeno para lhe dar a dignidade estética que talvez mereça... E, bem entendido, quero que mais pessoas leiam Um quarto em atenas.
Apesar deste destaque elogioso à crítica, clamando mesmo pela sua importância vital para o funcionamento inteligente de uma sociedade, recorro novamente a Steiner para expor o outro lado da moeda: “No século XX não é fácil a um homem honesto ser crítico literário. Há tantas outras coisas mais urgentes a fazer.” Além disso, “lerá críticas de poesia ou de teatro alguém que não disponha já de importantes recursos culturais próprios?”. Portanto, fazer crítica literária está entre o irrelevante, ou pelo menos o pouco relevante, e o escusado (uma escala negativa, somente). Mas enfim, a arte e o pensamento vivem muitas vezes do inútil, desse excesso de forças que são desviadas do produtivo para embelezar e sacudir esteticamente o mundo. Vivem fragilmente, não nos esqueçamos que os mesmos alemães que entre a segunda metade do século xix e o início do xx descobriram, e inventaram, a Grécia Clássica se intoxicaram rapidamente com as mais básicas propostas do populismo nacionalista nazi.
III
(Um quarto em atenas)
Por que razão considero Um quarto em atenas uma “poética do acontecer”? Porque Tatiana Faia, sem pretender ser uma neo-vitalista ou neo-neo-realista, usa os fios reais que compõem o quotidiano para desenhar os seus poemas, mesmo quando vai ao baú das Ariadnes antigas buscar instruções ou amostras, perfeitamente actuais, que a ajudam a montá-los. Mas não é uma antropologia poética, nem sequer uma poesia realista, émula do Romance Realista, Tatiana nunca fica refém daquilo que observa, ela escolhe os ecos da vida diária e dá-lhe novas colorações, não enfeita a banalidade para traçar mais um dispositivo pitoresco, quando captura o fulgor do quotidiano quer destacar pequenas economias de sentido que ainda mantêm o Ocidente de pé, mesmo que estejamos, quase literalmente, a nadar em lixo e muito confusos com o nosso declínio. Por outro lado, Tatiana Faia vive bem sem a habitual, e estafada, preocupação metapoética (embora fale bastante sobre o ofício de escrever), ou o acento subjectivista que incha a grandiloquência do eu. Não há também, para terminar esta espécie de fenomenologia da ausência, notas agudas sobre sexualidade ou amor-paixão, esse combustível incontornável de tanta escrita contemporânea.
O que há é poesia, é isso que nos traz a sua voz simultaneamente moldada e moldadora de poesia (cada poeta, ao sê-lo, é demiurgo e criatura do vasto, complexo e profundo campo da poesia). E ao trazer-nos isso, dá-nos algo de precioso e importante, a poesia é uma forma de escrita e de acção que se concretiza na história (e por isso a modifica), e não um efeito cultural menor num modo de vida autocriador, em circuito fechado. Esta generalidade acontece também porque ainda não há gavetas definidas para a Tatiana, e, mas isto é totalmente pessoal e controverso, espero que essa indefinição se mantenha, a ideia de criar e ficar, porventura eternamente, no corredor de um estilo próprio parece-me assustadora.
Já referi o pano de fundo de Um quarto em atenas: uma explanação imbricada das linhas de força do dia-a-dia, um fresco dinâmico acolhendo algumas moléculas perenes. Daí que se repitam os poemas com marcadores geográficos (que são também geopolíticos e geoafectivos): Oxford, Lisboa, Atenas, Lavrion... Daí que haja dois poemas com títulos de cafés, o Kafka e o Drama. Daí que outro se chame “Cinco Visões do Paraíso Terrestre”. Daí que em “Alguns Poemas Portáteis” refira livrarias, museus, pedintes e um sentimento de culpa por não ouvir os gritos que compõem a sinfonia da vida humana, como em O Grito de Munch não se “representava um homem a gritar / mas um homem a tentar conter / como as barreiras fazem com os rios / o grito de tudo o que o rodeia”.
Na minha leitura, este cenário é depois preenchido por três linhas de força: uma sobre o claro-obscuro, outra de crítica sócio-política e uma terceira sobre o ofício de escrever (não uma metapoética, que obriga, de uma ou de outra forma, a fazer teoria da poesia). Comecemos pela última.
1- (ofício de escrever) Tatiana Faia assume em vários momentos a sua condição visceral de herdeira:
“como explicar que como tudo
o que vive e apodrece tenho ocupado
os corpos dos que viveram antes de mim
que o sinal mais fundo das suas vidas
é a única pauta que tenho para fazer
o meu caminho erro atrás de erro
tentando conservar alguma boa vontade”. (“Passagem & Passageiro”)
É claro que se disciplinarmos a ilusão facilmente reconhecemos a sensatez do que acabámos de ler. Mas para alguém que viveu parte da sua vida há mais de vinte séculos atrás (Tatiana esteve – e está – inscrita na vida da Ilíada, além disso “acredit[a] que a mais absoluta nostalgia / tem determinado todos os poemas” – “Primeiro Poema de Madrid Revisitado”), a condição de herdeira tem outras implicações, em “Cinco Visões do Paraíso Terrestre” escreve: “aceita que tudo / pode ser perdido realmente”. Portanto, não se trata de uma herdeira feliz, como tantos iludidos com a equação “sempre a somar”, onde cada neófito sobe para os ombros de antepassados para ver mais longe. Tatiana sabe que se pode perder tudo, num ápice, que o erro percorre a história, que há coisas efémeras, apesar de perfeitas. Tudo é frágil, evanescente, até o passado. Por isso, podemos ler que “é verão e é verdade que o mundo / caminha para o caos devagarinho”. (“Anne Frank Interrompida”) Se isto, refere no mesmo poema, não a impede de “escrever até ficar cega”, é também verdade que, à semelhança de um náufrago, se escapará “em direcção ao fundo”. Creio que tudo isto determina que julgue a sua “arte” como a da “vigilância constante” (“Literatura para Falcões”), considerando: “[…] é agora a hora de procurar uma palavra / que pese completamente”. Julgo o “é agora a hora” mais messiânico do que cronológico.
2- (crítica sócio-política) Há dois poemas onde nos devemos deter para capturar a visão mais imediatamente política (numa perspectiva abrangente) que Tatiana Faia retira do seu mundo (que é o mundo de muitos, mas não O mundo, tal coisa não existe). O primeiro, “O Retorno, 2016”, descreve o português contemporâneo entre as suas adições infantis a moléculas farmacêuticas e ao colo da mamã e a manutenção de uma misoginia mais parva do que julgamos, mostrando-nos como um apêndice pífio do macho latino: inculto, feio e deferente em relação à exclusividade da cozinha para meninas e senhoras. Tatiana, numa referência ao poeta Ruy Belo (“O Portugal Futuro”), não acredita “que o país do puro pássaro seja possível”, novo em folha e frugalmente perfeito.
“como é que eu posso saber
no meio deste inferno periférico
hipotecado a setenta anos
democraticamente manso
e de fraca consciência histórica
que mundo será o vosso meus filhos
nascida de pais portugueses em portugal
os meus filhos nascerão talvez ingleses
talvez cidadãos do mundo
e até nisso serão mais portugueses do que eu”
Apesar desta visão filtrada pelo desalento, Tatiana quer ainda amar alguma coisa, por isso termina dizendo: “ou mesmo olhar para tudo com um olho a menos / para poder continuar a amar em paz o resto”.
Faz parte da nossa tradição cultural mais recente (século xix em diante) ver em Portugal um projecto de bem-estar social constantemente adiado. Talvez porque tenhamos começado a pensar muito tarde, e as primeiras décadas, ou séculos, de uma disposição crítica são quase sempre negativas. Acredito que a próxima onda de pensamento esteja mais atenta ao jubilatório, sem inflações culturalistas ou nacionalistas (aqui está mais um perigo real à espreita), e continue a esbater o nosso provincianismo megalómano. Tatiana, como a maioria dos escritores portugueses, tem um filtro pessimista. Não porque exagere o ângulo infeliz de onde observa a realidade portuguesa, mas porque vê com uma lucidez especial e de forma panóptica, sem infiltrações, o que se desmorona ou o que nunca chegou a construir-se. Preferindo apontar a lupa para as barracas em vez dos palácios, daí fazer parte daquele primeiro movimento de pensamento crítico de que falei há pouco. Porém, e tal é imediatamente compreendido se estivermos 5 minutos com ela, Tatiana Faia tem uma energia positiva que compensa o lado mais sombrio da sua analítica, como refere no final do poema que citámos (“O Retorno, 2016”) e em muitos outros locais da sua obra.
Mas se quisermos apanhar uma tonalidade geral, isto é, que não remeta imediatamente para o lado mais ocidental da Ibéria, que só por acaso se constituiu como um país (é bom lembrá-lo), basta ler, entre outros, alguns versos de “Café Kafka”:
“[…] imagino que todo o desejo do mundo
seja montes de dinheiro
e habitar com um sorriso balofo
o vazio inteiro de uma função”.
E aqui Tatiana segue uma ética (no sentido de habitar o mundo de uma boa forma) que hoje felizmente percorre uma parte significativa das novas gerações, uma ética que recusa o consumismo predador, assente num trabalho remunerado que não questiona o seu valor intrínseco e numa acumulação de bugigangas que perdem quase instantaneamente o brilho inicial (mas cuidado com as utopias vingadoras). Portanto, à recusa de um autocontentamento patriótico junta-se a crítica ao modus vivendi devastador e egoísta que culminou no Antropoceno, a Era de todos os riscos, onde uma incrível quantidade de conhecimentos científicos convive com uma estupidez ética que o subjuga, ou pelo menos o desvaloriza significativamente. Esta dissonância, creio, percorre em filigrana Um quarto em atenas, marcando a posição da Tatiana em relação à actual geopolítica dominante: a do consumismo (esta disposição individual e colectiva atravessa todo o espectro político, da esquerda à direita).
3- (claro-obscuro) No poema “Velhas Contas” escreve:
“fragmentos e fragmentos de conversas
onde às vezes ao fim de muita luta
a breve iluminação daquilo que ia mesmo ser dito
se alonga como uma ponte suspensa sobre o nevoeiro
[…]
de quantas maneiras o teu trabalho
é novo, precário e difícil
e nunca vai ficar acabado”
“Colecionar errâncias”, diz em “Ambros Aldewarth”, ainda que seja com “precisão” (dar esta pequena ordenação ao caos para recolher, de través, bolsas de sentido, porque o contrário seria a deriva absoluta). Sem ceder a qualquer inflação distópica, Tatiana Faia aconselha a aprendizagem da desorientação:
“tu que aprendeste a falar sobre imagens
anda lá diz-me
que encontro ainda recairá sobre ti
que conversa te restará
depois da zanga e da fome e da aporia
depois de todos os ângulos
e todas as curvas do labirinto
e o contorcionismo do sem saída
quando os caminhos que esperaste
não chegaram como antónio josé forte
diz que nos chegam certas cidades
– no nevoeiro” (“Lenta Aprendizagem da Desorientação”)
Sim, o que pode ficar de fixo depois de todas as encruzilhadas pelas quais passamos? Até os lugares têm de ser desaprendidos (“Tributo & Tribulação”). “arrasemos até à ruína cada uma destas casas” (idem), porque já não habitamos qualquer lugar seguro, mas, num assomo de responsabilidade e de nostalgia, “podes só deixar ficar a árvore / onde na infância riscámos os nossos nomes” (idem). É por isso que em “A Morte de uma Arquivista” se revisita, e reconstrói, a queda de Ícaro, até agora uma história obcecada pelo “pecado e punição”. Afinal, o seu “voo de belo efeito”, com uma “trajectória mirabolante”, “sempre para baixo e a toda a velocidade / rapaz-pássaro”, é a lei que governa o universo. Talvez contrariada quando um pequeno milagre, esses desvios à estatística, contradiz os planos matemáticos do Caosmos:
“e sei ainda havemos de arrastar
os nossos corpos cansados
para fora do círculo da queda
onde um de nós
assobiará de raiva
um tu ainda não me desiludiste” (idem)