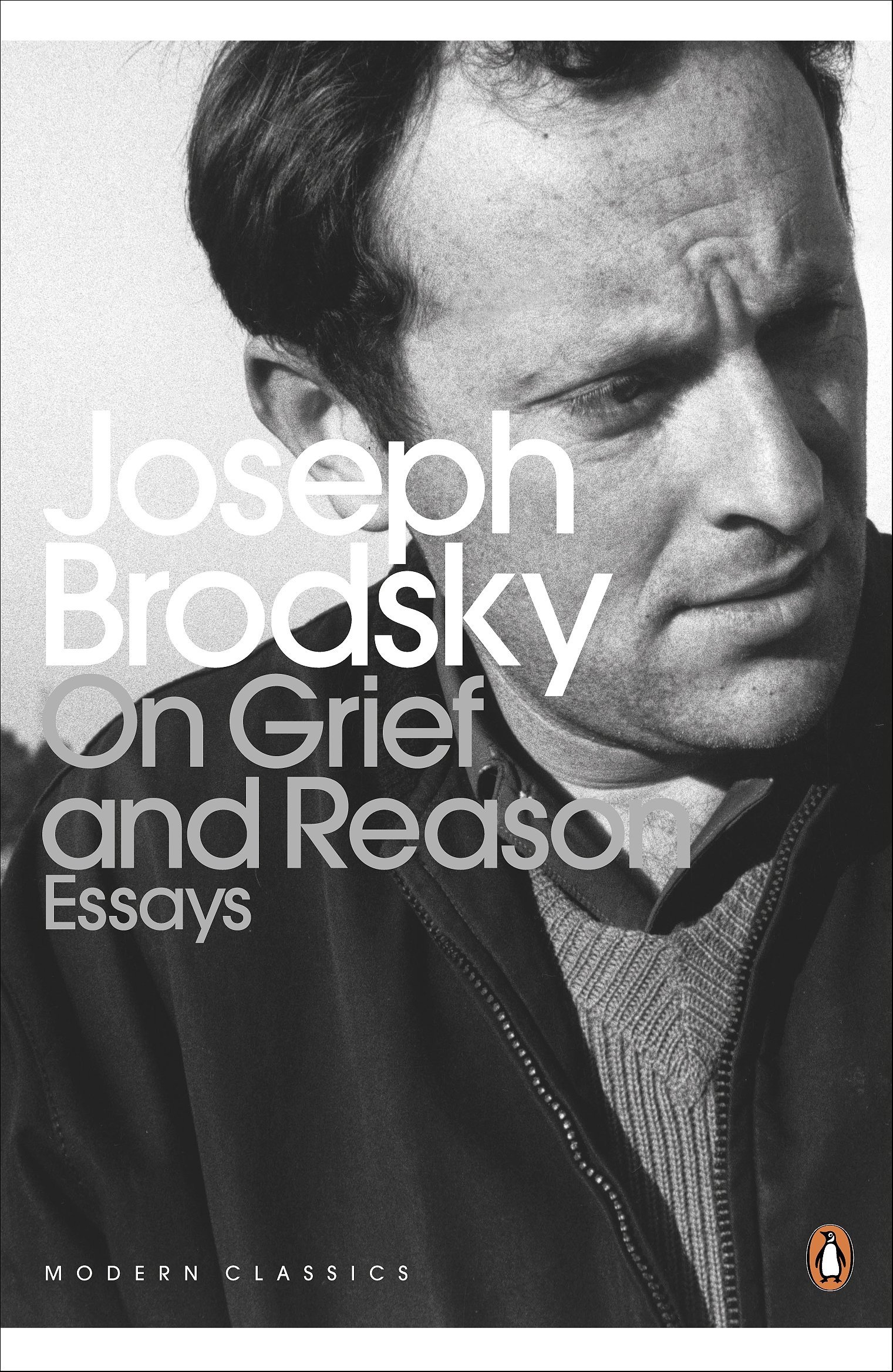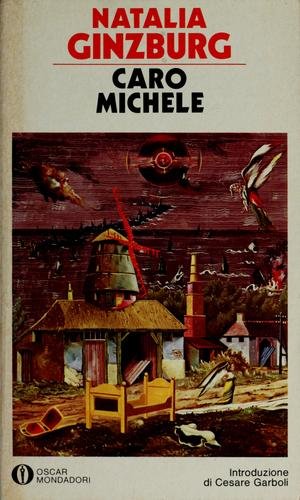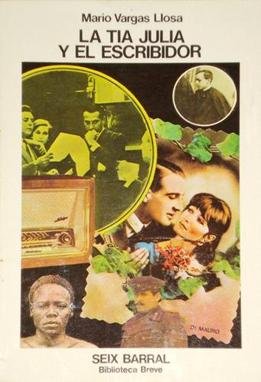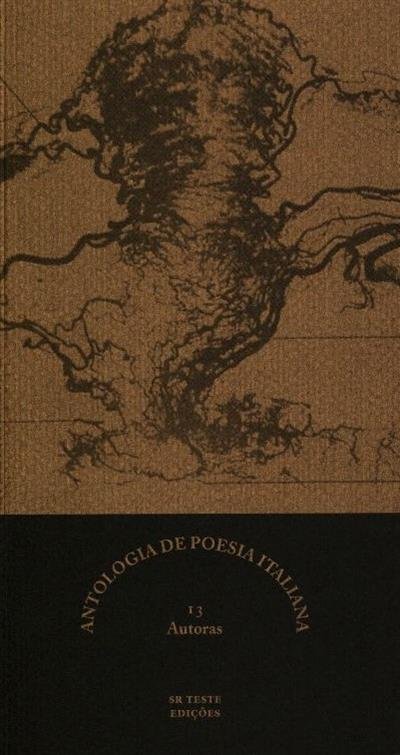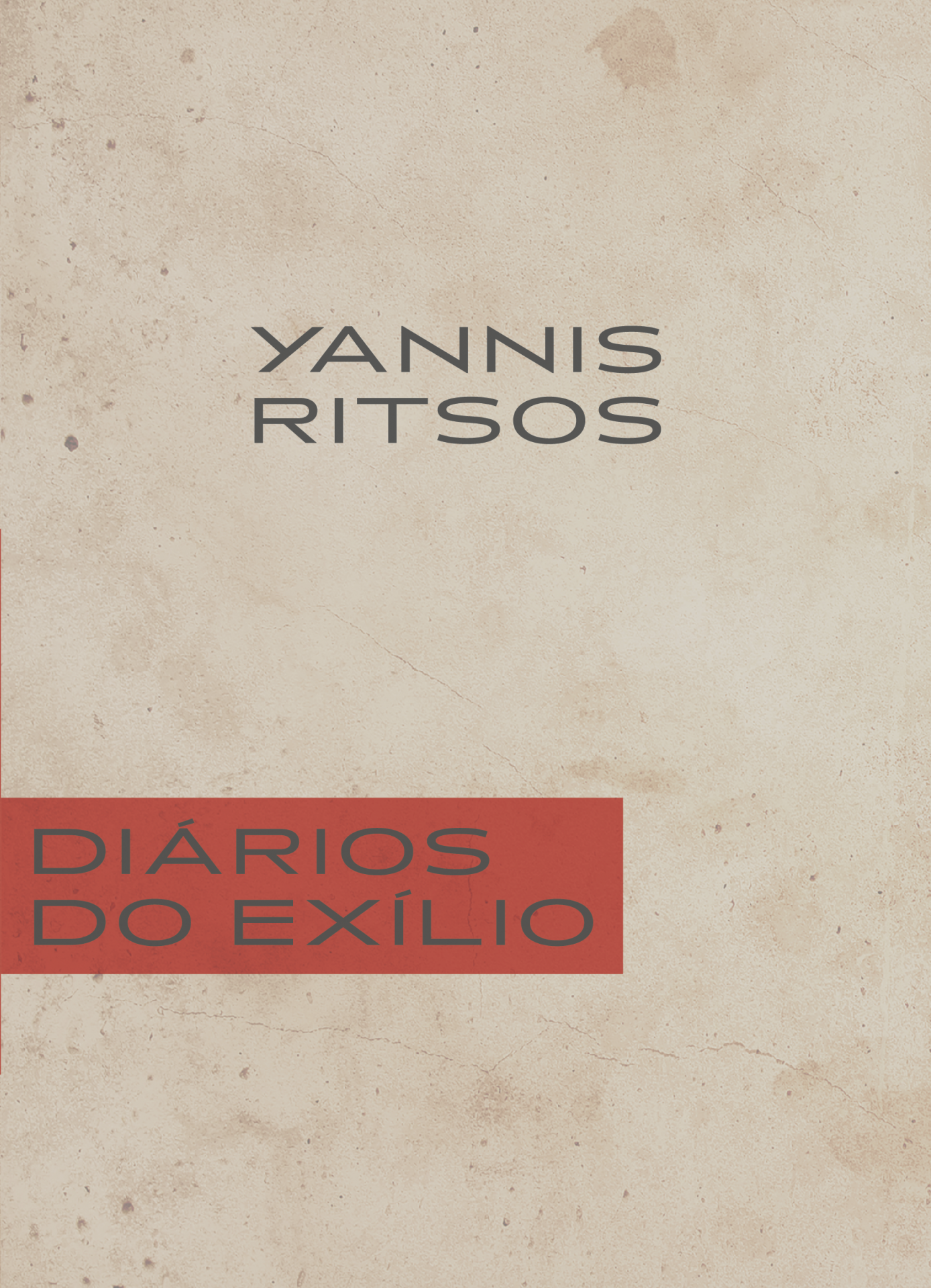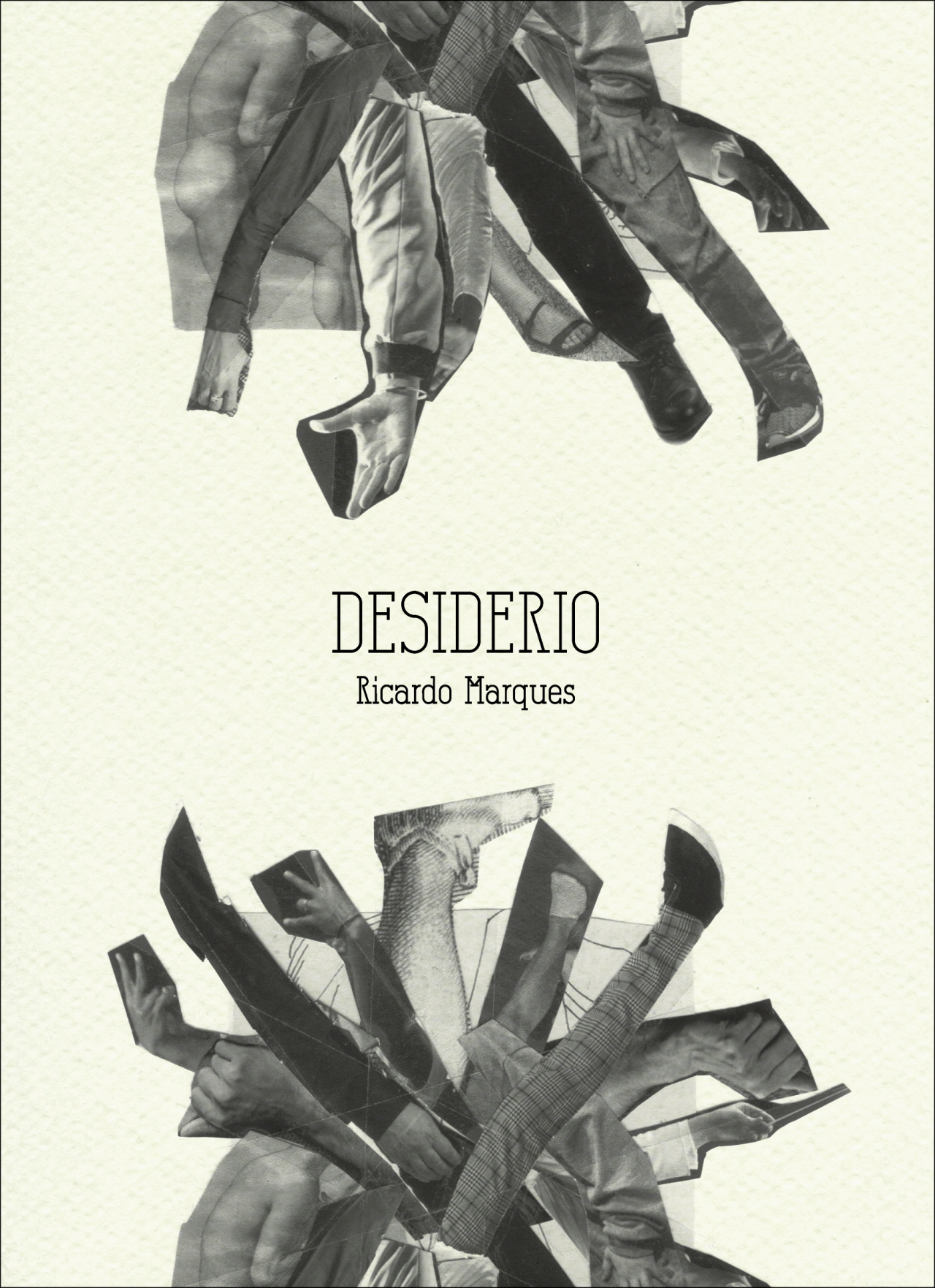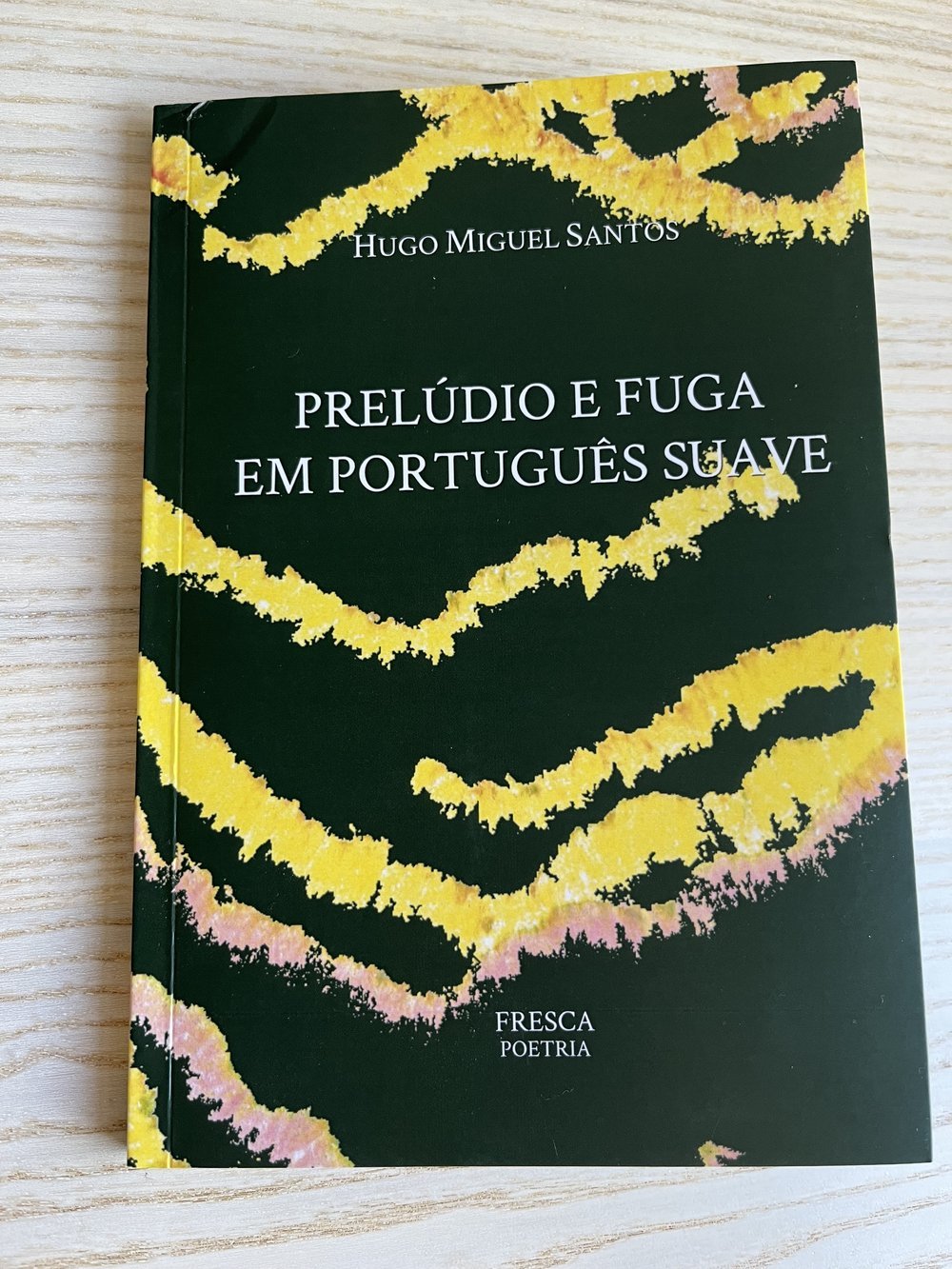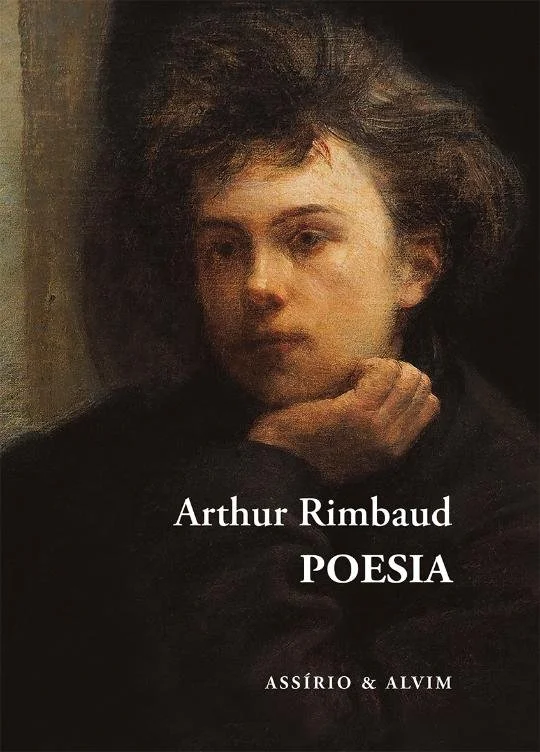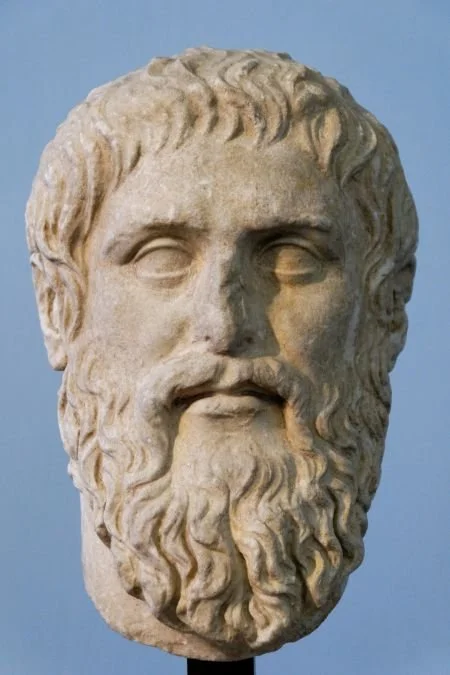Livros do ano, 2022 (Tatiana Faia)
/Esta lista é uma espécie de balanço, uma enumeração imperfeita de alguns dos livros que mais gostei de ler em 2022. É um pouco hedonista, porque, parafraseando Susan Sontag, ler, tal como escrever, é uma forma de felicidade, e este foi um ano que não foi particularmente dado a hedonismos. Em 2020, durante o primeiro confinamento, comecei um clube de leitura com outra pessoa só. A Clara estava em São Paulo e eu em Oxford, todos os dias nos encontrávamos diante de uma câmara e líamos uma para a outra, ela um romance e eu outro. Este clube de leitura, que existe ainda hoje, cada vez mais me faz pensar no acto de ler como uma janela privilegiada, uma espécie do suave mari magno de Lucrécio, cujas vistas correm tangencialmente ao mundo que continua a girar loucamente. Estou a pensar nisto enquanto me sento para escrever esta lista paralelamente a uma janela que tem vista para um jardim que já não está, mas esteve, coberto de neve. A minha lista é também parcial em duplo sentido, não inclui necessariamente tudo o que amei ler em 2022 e inclui os livros feitos por alguns amigos.
On Grief and Reason de Joseph Brodsky (Penguin, 1997) – é uma colectânea de ensaios que inclui algumas das reflexões mais lúcidas que li este ano, sobre o exílio, sobre encontrar poetas e ler poesia, sobre espiões russos em Londres, sobre traições, sobre fazer amor num quarto cheio de espelhos em Roma, sobre regressar à Europa para um funeral (o de Stephen Spender), sobre Kavafis, Horácio e Marco Aurélio. Tenho um amigo inglês que gosta muito de citar uma frase de Brodsky: “Poets are never victims.” Quando se lembra desta frase, o meu amigo acrescenta sempre: “And he knew what he was talking about. He spent time in a Soviet prison.” É exactamente esse modo de falar sobre as coisas que transparece nestes ensaios.
Caro Michele e Famiglia e Borghesia de Natalia Ginzburg – Três novelas da década de 70 que falam de laços familiares (sobretudo dos laços entre mães e filhos), da sua inexorável mudança na Itália do pós-guerra. Caro Michele é um romance epistolar originalmente escrito em 1973. Uma mãe vai escrevendo a um filho que primeiramente desaparece da sua vida e depois de Itália, por causa do seu envolvimento com as Brigate Rosse. Assoma nesta novela um pouco a Inglaterra desolada de que Ginzburg havia escrito em As Pequenas Virtudes, e o desolado destino dos exilados, mas antes de tudo isto uma mãe que tem muita dificuldade em entender um filho e que tenta fazê-lo com um sentido de humor duro, que o expõe a ele e a ela num delicado equilíbrio que não é um esforço tanto de o entender quanto de sobreviver através de certas coisas. Famiglia, por outro lado, é uma das novelas mais belas que li este ano, sobre um casal de amigos que estiveram outrora envolvidos e que se encontram numa noite de muito calor para ir ao cinema e nunca mais se separam continuando a entrelaçar as suas vidas de uma forma que envolve as suas novas famílias, outros amigos, outras relações. Talvez não seja tanto uma novela como uma exploração do amor e da amizade, vista a partir do lado absurdo e irrecuperável da vida, e incluindo-o. A versão italiana do audiolivro de Caro Michele é narrada por Nanni Moretti. Talvez poucas vezes um audiolivro tenha tido um narrador tão adequado.
Postwar Polish Poetry (ed. Czeslaw Milosz) – uma antologia inglesa de poesia polaca, talvez A antologia de poesia polaca.
Mrs Dalloway, Virginia Wolf – reli Mrs Dalloway em Março, pouco depois do início do evento de 2022 que não me apetece nomear. Por um lado, é o romance que me lembra que Bloomsbury, que de resto para mim são mais autenticamente aquelas dezenas de metros que correm entre o British Museum e a livraria da London Review of Books do que outra coisa qualquer, é alguma espécie de centro do mundo e da contemporaneidade, mais do que simplesmente do modernismo, e que muito do que é Bloomsbury, pelo menos para mim, é a força das observações de Virginia Woolf neste romance. Pareceu-me desta vez, não sei porquê, que nenhuma personagem é tão tristemente lúcida como Septimus.
A Poesia é uma Mercadoria Inconsumível: Poemas e Recensões de Pier Paolo Pasolini (selecção e tradução de João Coles, Sr. Teste, 2022): é uma antologia editada e traduzida por um amigo e um dos editores deste blog, João Coles, onde em certo sentido se podem ler os poemas e as recensões que nos ajudam a entender Pier Paolo Pasolini como o artista de uma desesperada vitalidade. Um trabalho de edição rigoroso, bem cuidado e bem pensado, num pequeno livro que se transforma assim numa das melhores introduções que conheço à obra de Pasolini em qualquer língua.
La tia Julia y el Escribidor de Mario Vargas Llosa – penso que só li dois romances monumentais este ano, mas ambos pertencem a esta lista de livros do ano, o primeiro é La Tia Julia y el Escribidor, um romance divertidíssimo, sobre um adolescente aspirante a escritor, estudante de direito, com um precário emprego na radio e mais precisamente na produção de radionovelas, e do seu primeiro amor, também ele digno de radionovela, a tia Julia, divorciada e quatorze anos mais velha e também sobre o lendário Pedro Camacho, lendário autor boliviano de radionovelas. É fascinante ver a inteligência narrativa de Vargas Llosa, como este romance é e não é uma colecção de novelas dispersas entre si e ao mesmo tempo o retrato do que em teoria devia ser uma subcultura, a do melodrama nem exactamente pop das radionovelas no Perú, mas que é um fresco de todo um tempo, pontuado pela duração de uma paixão adolescente.
A Tale of Love and Darkness de Amos Oz – este romance caiu no meu mês de Agosto entre um par de releituras porque tenho um amigo com quem falo, infelizmente, de longe em longe que me disse com grande fervor (aquele fervor que normalmente me faz não querer pegar num livro) que era um dos melhores romances que tinha lido na vida. A primeira parte destas conversas costuma ser sempre a mesma, “olha lá, Tadeu, o que é que andas a ler?” O assunto de A Tale of Love and Darkness é exactamente aquilo que o título inglês parece prometer. No fresco de personagens inesquecíveis que Oz recria a figura maior talvez não seja tanto o pai quanto a mãe de Amos Oz, a sua inteligência misteriosa, a escuridão que o seu suicídio traz, a forma como a muitos anos de distância Oz tenta reconstruir o mundo em que isso aconteceu, não só o de uma criança a crescer no jovem estado de Israel mas o de relações familiares e entre pequenas comunidades que uma criança sensível talvez não pudesse entender completamente, mas sentir sim, e tão profundamente que isso se torna um bilhete de regresso a um mundo entretanto mais ou menos desaparecido.
Uma antologia de poesia italiana: 13 autoras: de novo uma antologia feita pelo João Coles e publicada pelo Sr. Teste. Pode ler-se ao lado de outra breve antologia de poesia italiana de que gosto muito, The Faber Book of 20th Century Italian Poems (Faber, 2004, editada por Jamie McKendrick), e em certo sentido elas completam-se. O João selecciona aqui, cuidadosamente, uma espécie de cânone alternativoda poesia italiana contemporânea. Não há um poema mau. Prolonga um pouco o trabalho que tinha sido iniciado em Um Pouco do Meu Sangue, outra antologia de poesia italiana feita pelo João, em 2020, para a Contracapa.
Feux de Marguerite Yourcenar: é um livro que tem qualquer coisa de ovidiano (de o Ovídio de Heróides), são uma série de histórias de amores dilacerados, angustiantes e angustiados. Sobre o amor enquanto vital à sobrevivência e enquanto evento a que é necessário sobreviver.
Sonhador definitivo e perpétua insónia: uma antologia de poemas surrealistas escritos em língua francesa, Regina Guimarães (selecção e tradução), Saguenail (prefácio). Há uma concretude no surrealismo que de vez em quando me faz falta. Esta belíssima antologia lembrou-me porquê.
Either/or de Elif Batuman – algumas das horas mais divertidas que passei a ler um livro este ano foram passadas com este bildungsroman de Elif Batuman. O subtítulo podia ser Como Kierkegaard pode assombrar a sua vida. Mas para lá do lado picaresco que é sustentado pelo sentido de humor de Selin enquanto ela avança de uma paixão mal correspondida, e consequente obsessão de que ela não se consegue libertar, para outras relações igualmente tóxicas, que culminam no entendimento do acto de perder a virgindade e da exploração da sexualidade, algures entre Nova Iorque e a Turquia, como algo que é transacional de formas complicadas, desenha-se um entendimento mais profundo do que significa estar vivo, o que talvez seja, não em menor parte, uma mistura de coragem, sensibilidade e sentido de auto-preservação.
Time of the Magicians de Wolfgang Ellenberger e Places of mind: a biography of Edward Said de Timothy Brennan. O segundo destes livros talvez não seja tanto uma biografia como uma hagiografia, e talvez não seja tanto uma hagiografia por causa da relação próxima que Timothy Brennan tinha com Edward Said, quanto por causa da vitalidade e da inquietude de Said enquanto intelectual público, enquanto exilado profundamente privilegiado cujo trabalho (e figura) espelha e se divide entre várias culturas na intersecção entre o Oriente e o Ocidente. Sobre o primeiro livro escreveu o Victor Gonçalves aqui. Time of the Magicians coloca em paralelo as vidas e o pensamento de Wittgenstein, Benjamin, Cassirer e Heidegger, para descrever como uma década do século XX mudou a história da filosofia. Algures entre a leitura de um livro e outro dá para mapear a inquietude e o fascínio que as palavras e o que algumas pessoas pensaram sobre elas exercem sobre o tempo em que estamos a viver.
After Sappho de Selby Schwartz, Una Donna de Sibilla Aleramo e La femme gelée de Annie Ernaux –O primeiro destes livros podia ler-se como uma introdução aos outros dois até porque Sibilla Aleramo é uma das personagens de After Sappho, uma série de prosas breves sobre mulheres, intelectuais, escritoras e artistas, e o modo como as suas vidas e a sua produção artística se cruzam com a da primeira poetisa do ocidente, Safo, e com as vidas umas das outras, numa longa corrente de correspondências que começa com Lina Poletti, uma das primeiras mulheres em Itália a declarar-se abertamente lésbica, e que termina com Virginia Woolf e Vita Sackville-West. Essas correspondências vão-se tecendo contra o fundo de uma série de outras vinhetas, sobre leis e decretos que foram sancionando e institucionalizando a misoginia e a desigualdade de género na Europa. Sibilla Aleramo, que foi amante de Lina Poletti, publicou Una Donna em 1906, mas o romance foi escrito entre 1901 e 1904 e, claro, rejeitado para publicação em várias casas editoriais. Em certo sentido, há uma correspondência com La femme gelée de Annie Ernaux. Ambos são textos iminentemente autobiográficos, ambos olham para a instituição do casamento como parte de um sistema de opressão em sociedades patriarcais (ainda que em épocas e em sociedades relativamente diferentes). É um romance escrito em chiaroscuro o de Sibilla Aleramo, cruel, barroco, marcado pelos lugares-comuns de uma certa escrita da decadência, de uma época que não consegue ainda conceber a possibilidade de uma felicidade sem culpa fora das normas de uma sociedade opressiva, e nesse sentido sem dúvida com qualquer coisa do olhar de um Gabriele D’Annunzio sobre estruturas familiares, mas é ao mesmo tempo um texto corajoso, com uma energia resiliente, que resiste até aos clichés do tempo histórico fora do qual ele não chega a conseguir conceber-se. Mas La Femme Gelée de Annie Ernaux consegue, em parte porque é um livro de outra época (a data de publicação original é 1981). É um livro que consegue olhar para o trajecto de uma rapariga desde a juventude até um casamento e uma experiência de maternidade que parecem pôr fim a quaisquer aspirações individuais – intelectuais, profissionais, amorosas – e expor e, pelo menos em certa medida, evadir o tipo de desfecho que se encontra em Sibilla Aleramo. Três textos no feminino inquietos, a que talvez se pudesse acrescentar The Cost of Living de Deborah Levy.
Yannis Ritsos, Os Diários do Exílio (traduzido por José Luís Costa e Rui Miguel Ribeiro, posfácio de Claudio Russello, Edições do Saguão, 2022). Yiannis Ritsos escreveu estes diários poéticos em sucessivos “exílios” internos, em campos de concentração infames (Limnos, Makronissos) que existiram na Grécia durante a guerra civil que se seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1948 e 1950. A edição cuidada, com uma capa que emita os maços de cigarros que se fumavam nesses campos, o hors-texte que acompanha e edição e que Aragon escreveu em defesa de Ritsos, o excelente posfácio do Claudio, mas sobretudo a belíssima tradução seriam coisas que podiam explicar a gratidão que sinto por este texto finalmente existir em português. Mas tentar dizer isso é uma falsa aproximação. Os poemas que Ritsos escreveu nestas circunstâncias são o que Jorge de Sena descreveu num poema sobre não ter dinheiro para comprar livros (“Ode aos livros que não posso comprar”) como uma forma de ir reunindo e mantendo uma humanidade que vai escasseando. Os companheiros, lugares, objectos, trânsitos que Ritsos descreve têm um lado utilitário que envolve uma paráfrase de William Carlos Williams: as pessoas morrem miseravelmente, todos os dias, por falta de coisas que se podem ler em poemas. Não conheço nenhum livro de poemas que seja uma melhor demonstração disso do que este livro de Ritsos.
Três livros de poemas de pessoas que me são demasiado próximas que marcaram o meu ano foram Os Deuses da Resina (húmus, 2022) do Pedro Braga Falcão, que reúne três livros que ele me disse em tempo que eram sobre os seus pais e sobre os pinheiros em redor da casa onde ele cresceu. Duvido um pouco disso. Os poemas do Pedro são monólogos sobre a força da poesia enquanto música, enquanto pulsação para viver, sobre a paixão de que os poemas são um repositório, mas que é uma forma de habitar o mundo, de o ver criticamente, com tanta inteireza quanto possível. Paixão, na verdade o desejo, é explicitamente o tema de Desidério (não edições, 2022) de Ricardo Marques. Desidério é também uma espécie de balanço do percurso de poeta do Ricardo. Prata (elementário, 2022) de José Pedro Moreira é um livro sobre a prata, ou sobre Píndaro e a ideia expressa nas suas odes de que não há um prémio para o segundo lugar. Na mesma colecção gostei bastante de Titânio de Regina Guimarães (2022), e Sr. Estrôncio de Ricardo Tiago Moura (2020).
Um primeiro livro de um poeta novo, sobre o qual não escrevi, o que me pesa na consciência, e que não vi particularmente incensado por crítica nenhuma: Prelúdio e Fuga em Português Suave (Fresca, 2022) de Hugo Miguel Santos. É um primeiro livro marcadamente italianófilo. Talvez seja difícil de escapar ao facto de que os poetas tendem a decidir as suas genealogias literárias nos primeiros livros. A do Hugo é Pasolini e uma certa geografia literária da Itália do Sul, embora ele tenha estudado na Itália do Norte, mas talvez mais o Pasolini em estado de graça de A Longa Estrada de Areia, do que o de Escritos Corsários, e esta genealogia estende-se, é também a do desaparecimento de um amigo, e a que retrocede a um pai e a um avô. É um belo primeiro livro. Fica a nota.
Faltava aqui escolher um livro que li com Clara, no meu tal clube de leitura transatlântico para duas. Uma pequena história sobre a escolha desse livro. A 1 de Dezembro de 2022 dei por mim no aeroporto de Heathrow a ler-lhe, meio às escondidas, enquanto fazia tempo para apanhar um voo para Atenas, as três últimas páginas de O Desprezo de Alberto Moravia, um livro cuja leitura arrastámos interminavelmente durante meses. Nada nesse romance misógino é tão misógino como o seu final. Moravia é particularmente bom a escrever sobre a relação entre estruturas de opressão e corrupção moral – pense-se numa novela como O conformista. Antídoto para a amargura que essa leitura nos trouxe foi o livro que lemos em paralelo com esse, A Ilha de Arturo de Elsa Morante, durante muitos anos de resto mulher de Moravia (e é possível que qualquer coisa em O Desprezo revisite a ligação amorosa que Morante manteve com Visconti), que é um romance sobre a ternura e o melodrama da infância e da adolescência, que trazem Arturo até ao princípio da idade adulta, com a ilha de Procida como pano de fundo. É difícil não amar Arturo, o quanto ele quer morrer e o quanto ele quer viver. E é difícil não amar a sua madrasta, também ela uma adolescente, Nunziata.