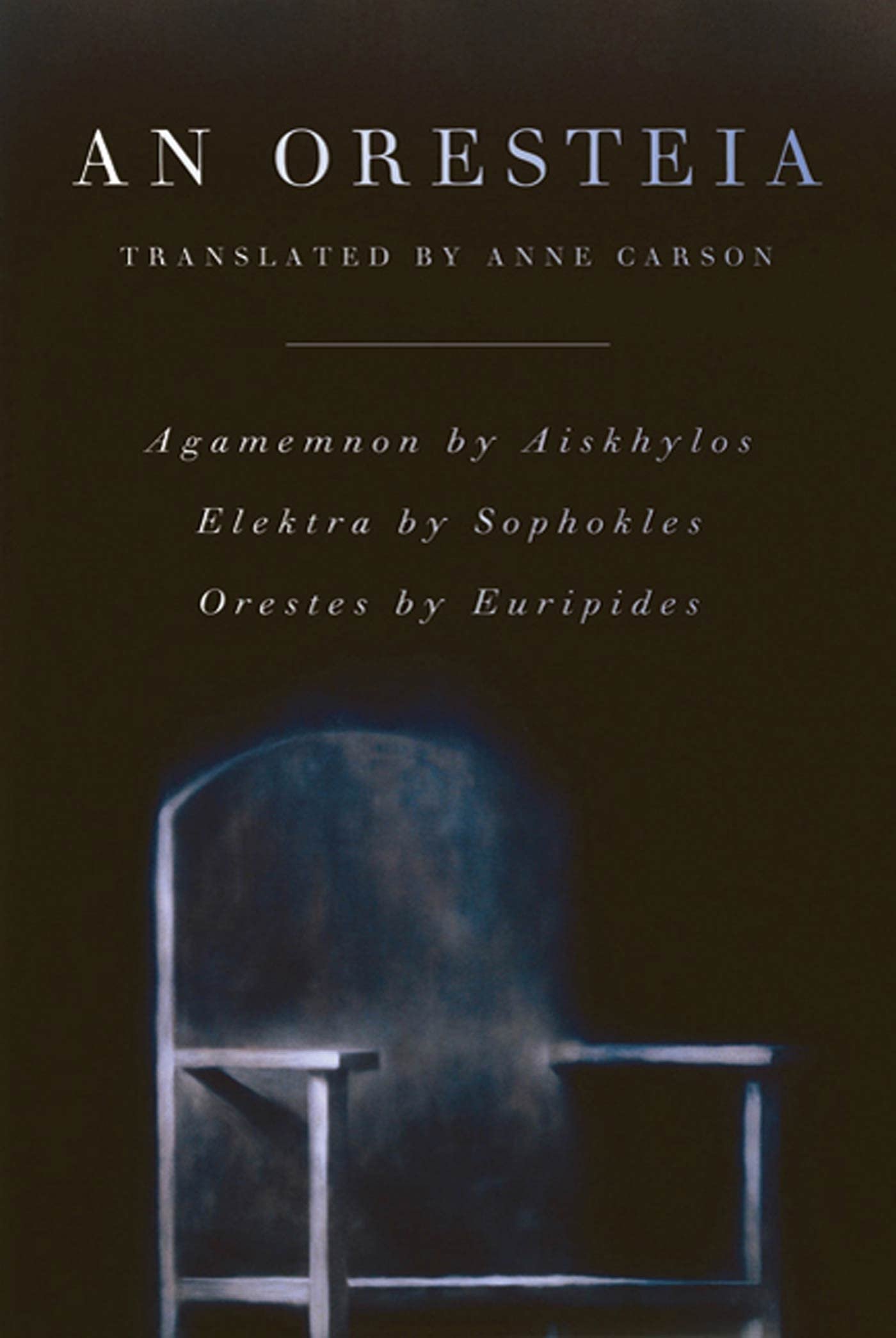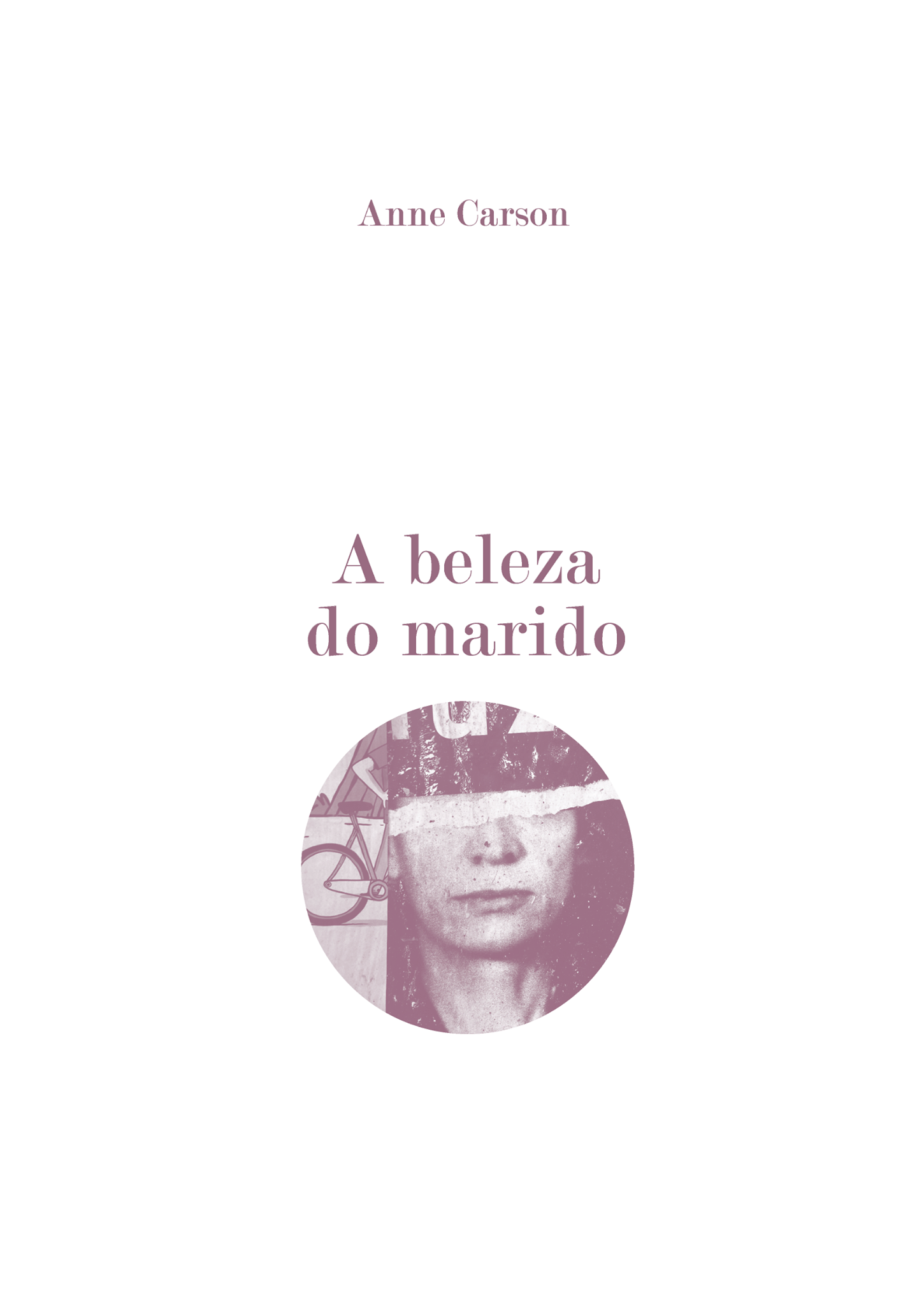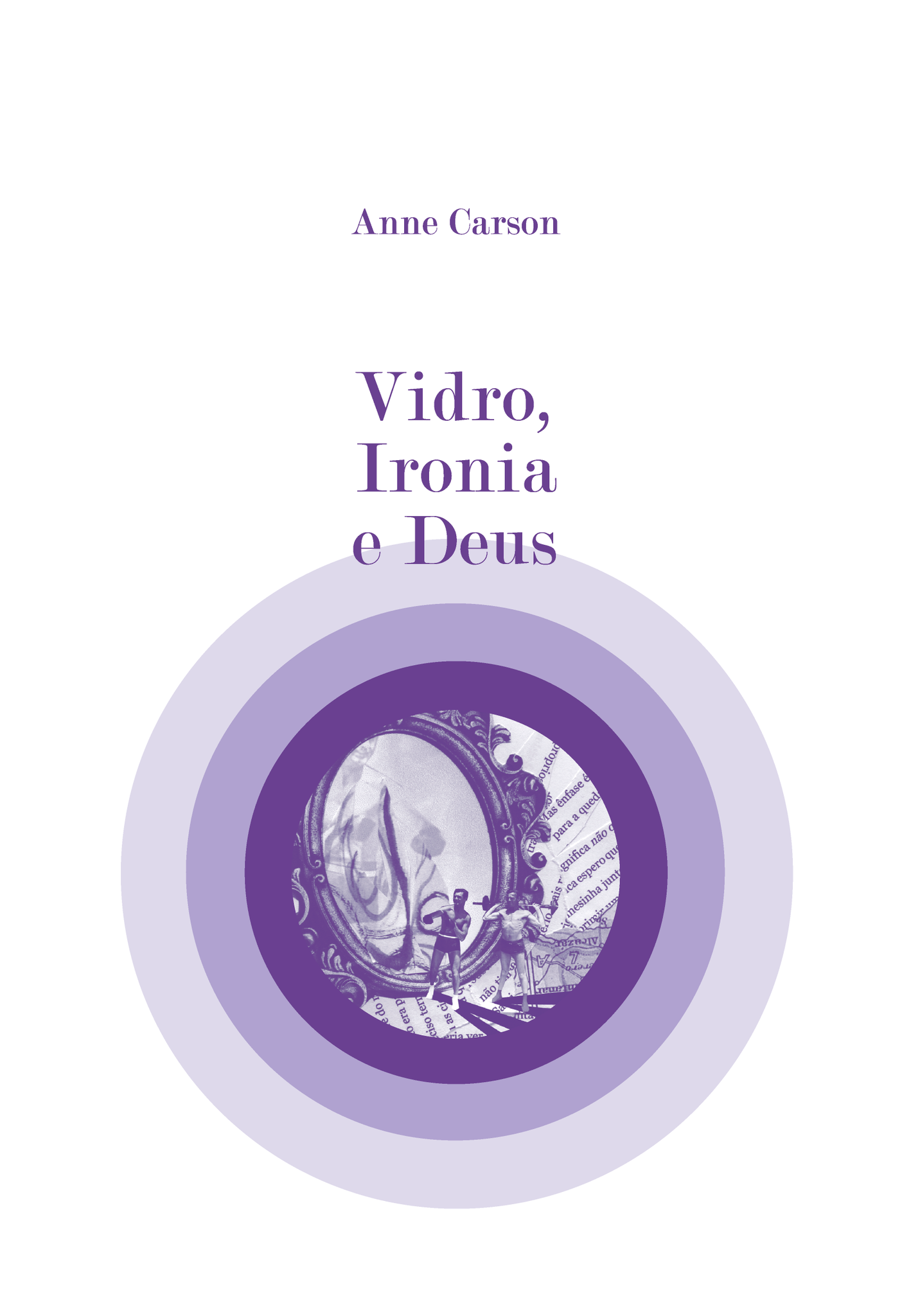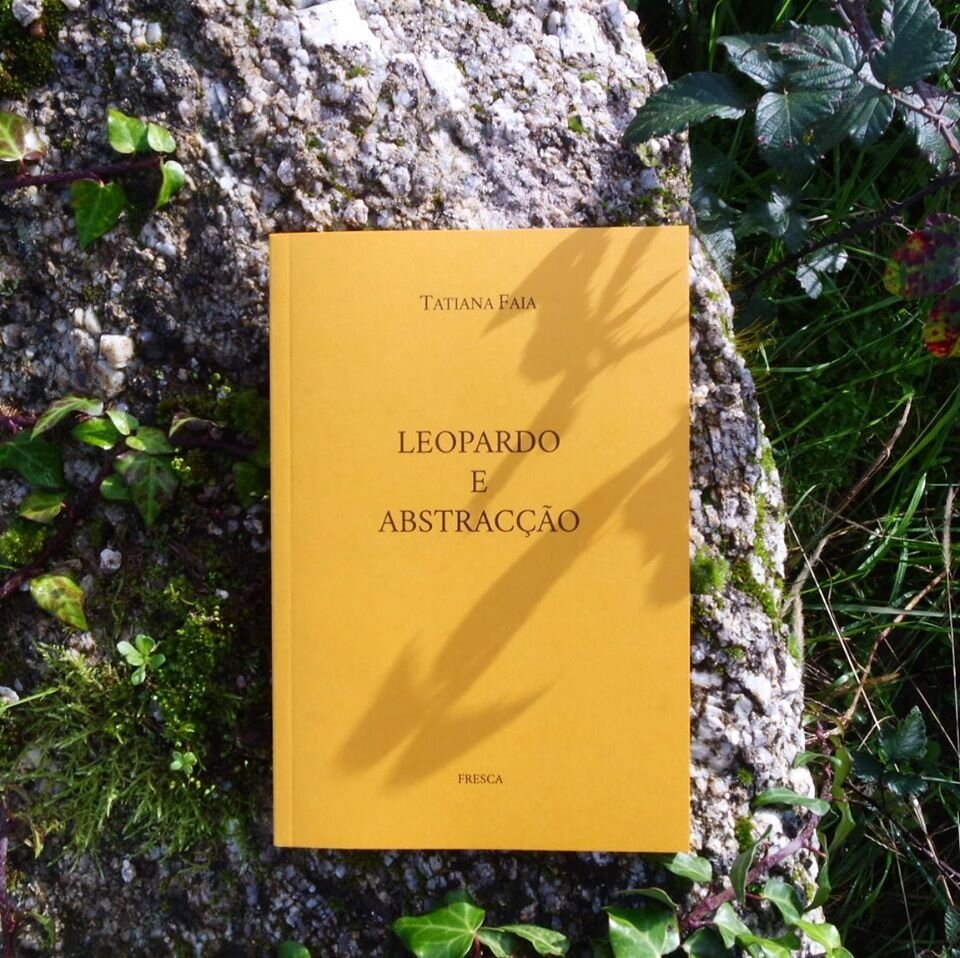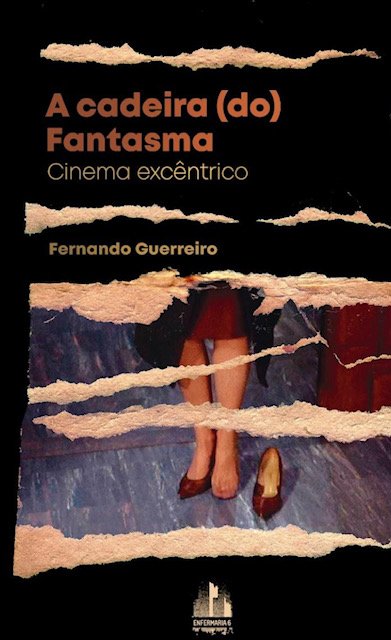Anne Carson
/Anne Carson
O percurso de Anne Carson enquanto escritora é bastante difícil de classificar. As designações mais óbvias poderiam descrevê-la como poeta, tradutora e ensaísta mas estas três práticas contagiam-se umas às outras mais ou menos constantemente. Por exemplo, em 2009, Anne Carson publicou uma tradução da Oresteia. A Oresteia, assim explicará qualquer estudante do primeiro ano de clássicas, é uma trilogia composta de três peças de Ésquilo (Agamémnon, Coéforas, Euménides). O Agamémnon narra a história do regresso do Rei Agamémnon de Tróia e da morte deste às mãos da sua mulher, Clitemnestra, depois de este ter morto a filha de ambos, Ifigénia, para propiciar os deuses e poder partir para Tróia. Coéforas narra o dilema e a decisão do filho de ambos, Orestes, de matar a mãe para expiar o homicídio do pai. Orestes é instigado a tomar esta decisão pela irmã, Electra. A última peça é um marco na história do teatro na Europa e na história da filosofia ocidental sobre a justiça, talvez ainda mais do que todas as outras. É sobre como Orestes é perseguido pelas Fúrias, divindades tresloucadas que o enlouquecem por causa do crime que ele cometeu e de como, em Atenas, ele é finalmente julgado segundo uma nova forma de justiça, no tribunal do Areópago, o que põe fim a um ciclo de violência ancestral que, de outra forma, se perpetuaria infinitamente. Tudo isto estaria certo, mas a peça de Anne Carson não é nada disto. Anne Carson desconstrói a Oresteia de Ésquilo, agrupando três peças que não estas exactamente: passamos do Agamémnon de Ésquilo para a Electra de Sófocles e daí para Orestes de Eurípides, cujo final opõe ao peso da justiça esquiliana (e à narração vagamente propagandística do mito fundador de um respeitável tribunal ateniense) uma acção tragicómica, preocupada com a mesquinhez humana e com a vingança, com muito humor negro e melodrama à mistura, numa das representações mais negativas de Helena de Tróia que a tradição clássica nos legou. A peça termina com o casamento de Orestes com Hermíone, filha de Helena. É só depois de casado com a prima que Orestes é enviado para Atenas para ser julgado.
Há nos clássicos uma intensidade e uma violência que de várias formas são profundamente próximas do estilo de Anne Carson. Em Grief Lessons, outro volume de traduções de tragédias gregas, desta vez dedicado à tradução de quatro tragédias de Eurípides, Anne Carson escreve a propósito de Eurípides:
Who was Euripides? The best short answer I’ve found to this question is in an essay by B.M.W. Knox, who says of Euripides what the Corinthians (in Thucydides) said of the Athenians, “that he was born never to live in peace with himself and to prevent the rest of mankind from doing so.” Knox’s essay is called “Euripides: The poet as Prophet.”
E continua:
There is in Euripides some kind of learning that is always at the boiling point. It breaks experiences open and they waste themselves, run through your fingers. Phrases don’t catch, theories don’t hold them, they have no use. It is a theatre of sacrifice in the true sense. Violence occurs; through violence we are intimate with some characters onstage in an exorbitant way for a brief time; that’s all it is.
“There is in Euripides some kind of learning that is always at the boiling point...” e “through violence we are intimate with some characters onstage in an exorbitant way for a brief time…” Há qualquer coisa nesta frase que podia servir para descrever a inteligência de Anne Carson e a experiência de a ler. Pensamos, por exemplo, nas suas traduções dos fragmentos de Safo, a mais importante das poetas líricas gregas, intitulada If Not Winter onde, com um cuidado que relembra um pouco o cuidado mítico dos tradutores do Pentateuco em Alexandria, Carson traduz todos os fragmentos de Safo, enfatizando assim a nossa relação com a perda desses textos e expondo a paixão da nossa curiosidade pelo que é fragmentário, enquanto ao mesmo tempo somos envolvidos nas paixões fragmentárias de Safo. Este “some kind of learning that is always at the boiling point,” por outro lado, assoma no seu primeiro livro de ensaios, Eros the Bittersweet, o seu estudo das representações da fragmentação das emoções na literatura erótica da Grécia antiga.
Há depois livros que são alicerçados num dos traços mais vincados do estilo de Anne Carson, as ligações inusitadas, extremamente improváveis, que definem o seu pensamento crítico. Anne Carson é provavelmente a grande poeta comparatista do nosso tempo, se bem que esta etiqueta não descreve exactamente o seu método. Mas, The Economy of the Unlost, por exemplo, é um longo ensaio sobre a relação entre outro poeta lírico grego, Simónides de Ceos, o primeiro poeta a colocar um preço a um poema e a vendê-lo por dinheiro e não por outra coisa qualquer, e o poeta alemão Paul Celan, que, tão isolado no seu contexto como Simónides, teve de escrever poemas sobre coisas às quais é impossível colocar um preço. Penso que esta ideia de quanto vale um poema é uma obsessão de poetas de um modo geral, mas uma obsessão muito particular de Anne Carson, que, por vezes, nos seus livros, encontra expressão indirecta noutros contextos. O que vale um poema em face do suicídio de um irmão é uma das perguntas que pode parecer estruturar Nox, o livro que ela escreveu após a morte do irmão e sob a influência de um poema do poeta romano Catulo, um poema também ele escrito sobre a morte de um irmão, o chamado carmen 101.
Ou, para falar dos livros que a não edições tem traduzido e editado em Portugal, eles às vezes expandem a nossa percepção do que os géneros literários podem fazer para lá de quaisquer designações mais óbvias. Por exemplo, em teoria, Autobiografia do Vermelho, originalmente publicado em 1998, publicado pela primeira vez em Portugal em 2017, em tradução de Ricardo Marques e João Concha, é uma reescrita do mito de Gerião, mas é também algo que nunca antes tinha sido escrito, é um bildungsroman, um romance de formação, que é também a autobiografia de uma metáfora. Gerião é Gerião mas é também a metáfora de uma infância e adolescência de um artista, definidas pelo trauma e pela desadequação, pela auto-descoberta e pela auto-invenção. Gerião, a personagem e a metáfora, apesar do trauma, não se fecha, continua a procurar fora de si qualquer coisa que o traduza, apaixona-se, descobre-se parte de um triângulo amoroso, e regressa para uma sequela, red doc. Anne Carson chama a esta autobiografia um romance em verso.
Autobiografia do Vermelho, não edições, 2017
Alguma relação entre consequência, sequela e crise existe entre os outros dois livros que Anne Carson publicou e que eu traduzi para a não edições, A Beleza do Marido e Vidro, Ironia e Deus. A Beleza do Marido é o mais recente dos dois, foi publicado originalmente em 2001, enquanto Vidro, Ironia e Deus foi publicado pela primeira vez em 1995. A não publicou-os inversamente, A Beleza primeiro, em 2019, e Vidro, Ironia e Deus em 2021. Estas coisas confundem-se na cabeça dos leitores, mas A Beleza do Marido foi um dos primeiros livros de Anne Carson que li, durante um verão parcialmente passado no quarto de uma residência de estudantes que ficava nos arredores de Budapeste. Estava a dividir este quarto com uma jovem académica oriunda de Israel que encheu as minhas noites de um relato épico sobre a complicada linha de contactos a cultivar se queria ver os meus artigos publicados numa determinada revista da especialidade, um discurso cheio de confiança debaixo do qual se escondia a terrível precariedade e a competição muitas vezes amarga que são a condição da vida de jovens investigadores. Partilhava esse quarto e pensava constantemente em voltar a Oxford para desistir da tese de doutoramento que estava quase a acabar de escrever para escrever outra tese, o que na verdade acabou por acontecer. Dentro da minha mochila tinha viajado comigo de Inglaterra esse livro de Anne Carson, The Beauty of the Husband: a fictional essay in 29 tangos e eu costumava pôr um fim abrupto àquelas sessões gratuitas de aconselhamento profissional de alguém que, bem vistas as coisas, estava tão perdida como eu, dizendo que precisava de ir fazer um telefonema e ia lá para baixo, para o campo de basquetebol, ver os jogos e ler A Beleza do Marido. Eu estava nessa altura a vários anos de distância de começar a traduzir Anne Carson e de me cruzar com um famoso poeta norte-americano que tinha sido colega de Anne Carson na NYU e que, quando lhe contei que estava a traduzir este livro de Anne Carson, disse que quem lia o livro ficava com a impressão de que o marido era o único responsável por aquele divórcio. Noutra altura eu teria querido mesmo saber mais, mas não me interessou perguntar. Algures entre 2012, quando eu primeiro li A Beleza, e 2018, quando ouvi este comentário, a minha curiosidade febril acerca da biografia de Anne Carson tinha passado. Não há muito que se possa dizer sobre o grande trauma de um divórcio que seja particularmente original ou edificante quando o tom com que a conversa começa é normativo e aponta para questões de justiça retributiva. Nunca tinha pensado em A Beleza do Marido como um livro óbvio desse ponto de vista. O marido que aparece em A Beleza do Marido é certamente uma figura peculiar e tóxica, caracterizado como é pelas infidelidades recorrentes, pelas mentiras compulsivas e desnecessárias, pela fascinação com os jogos perigosos. Mas há qualquer coisa na natureza da mulher que é atraída por esse comportamento e que permanece inexplicada, o que talvez sugira uma natureza elusiva como a do marido. A ambiguidade do marido e a ambivalência da mulher, por outro lado, têm paralelos com o tipo de inteligência conjugal que se encontra na Odisseia, tornam-nos parte de uma longa tradição de literatura acerca de gente casada. Ao longo desses vinte e nove poemas talvez se reconstrua a linha de atracção, decepção, perda e, finalmente, resgate da beleza que podem sobreviver ao fim de uma relação. Pode-se então dizer que A Beleza do Marido é um livro que é um pouco como algumas das tragédias gregas que Anne Carson gosta de traduzir, é sobre expiação e veneno e sobre o veneno enquanto cura também. Desta forma, o livro evoca o lado inexplicável de certos laços que nos definem e da beleza que se agarra a esses laços, coisas que não se confinam puramente a uma lógica da tristeza – amantes, amigos, fragmentos de conversas, torradas, quartos de hotel, bolos de casamento, bagos de romãs, Tolstoi e Homero.
Vidro, Ironia e Deus, que acaba de ser publicado, é um dos livros mais estranhos de Anne Carson, embora pareça, em teoria, um dos mais convencionais. De todos os que aqui mencionei é aquele que em termos de classificação de género literário parece mais fácil de arrumar: cinco longos poemas e um ensaio. Mas os poemas são ensaísticos. Criam até o efeito estranho de subordinarem a uma dicção que muitas vezes parece convocar o tipo de estranheza que caracteriza a linguagem de um poeta difícil e caro a Anne Carson, Ésquilo, versos decididamente prosaicos, de onde qualquer musicalidade parece estar ausente. Este estilo de poesia ensaística gera cortes e elipses que se enchem de associações inusitadas, é fonte de drama e paródia, instaura muitas vezes o ritmo que se podia dizer que é o de alguém a pensar na própria música silenciosa do pensamento.
A Beleza do Marido, não edições, 2019
Vidro, Ironia e Deus é um livro que começa com a crónica de uma leitura obsessiva de O Monte dos Vendavais de Emily Brontë e que termina com um ensaio sobre o género do som ou, melhor dizendo, um ensaio sobre interpretações misóginas de certas vozes. Entre um texto e outro, muitas outras vozes se ouvem: a da narradora, a da mãe da narradora, a de Anne Brontë, a de Sócrates, a de Heitor, a de Deus, a de Isaías, a de uma mulher romana chamada Anna Xenia a quem morreu um filho. À medida que estas personagens se sucedem questiona-se o lado nocivo de sociedades estruturadas por convenções patriarcais, o que sabemos do passado, como reconhecemos os outros, como é que eles nos conhecem a nós, porque decidimos viver de determinadas maneiras, porque viajamos ou empreendemos longas caminhadas pelo gelo. Sentimos, à medida que lemos, que nos tornamos “…intimate with some characters… in an exorbitant way for a brief time…” Porquê essa exorbitância?, é uma pergunta que Anne Carson, que gosta de analisar primeiras causas aristotelicamente, poderia colocar. Não sei se existe uma resposta exacta a esta pergunta, mas no último parágrafo de Vidro, Ironia e Deus lê-se:
Ultimamente comecei a questionar a palavra grega sophrosyne. Interrogo-me sobre este conceito de auto-controlo e se realmente é, como acreditavam os gregos, uma resposta à maior parte das perguntas sobre bondade humana e dilemas de civilidade. Pergunto-me se não haverá outra ideia de ordem humana para lá da repressão, outra noção de virtude humana para lá do auto-controlo, outro tipo de eu humano que não um fundado na dissociação de interior e exterior. Ou, de facto, outra essência humana que não o eu.
Anne Carson, Vidro, Ironia e Deus, não edições, Lisboa, 2021, p.162 (tradução minha).
VIdro, Ironia e Deus, não edições, 2019