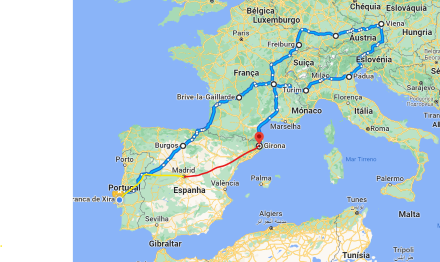* contém (muitos) spoilers
Quando era pequena, raramente tive Barbies: os preços da boneca, do carro e da casa da Barbie eram altos para um pai e uma mãe de classe média. Talvez por isso, habituei-me a não gostar tanto de bonecas, e quando elas me chegavam às mãos eram de outras marcas mais baratas, quase sempre um pouco estranhas, quase sempre com defeito de fabrico.
As minhas bonecas eram todas a Barbie Esquisita: mesmo as poucas da Mattel, andavam semi-nuas ou com roupas de outras que não lhes serviam, pintava-lhes a cara com maquilhagem que hoje só seria própria no Boom Festival, cortava-lhes o cabelo tão curto quanto possível e… obrigava-as a fazer muitas espargatas - era importante perceber quanto conseguiriam abrir as pernas.
No entanto, a minha Barbie favorita era - não a que a Mattel descontinuou - mas uma semelhante, provavelmente comprada num supermercado qualquer, pouco antes de o meu irmão nascer: ainda grávida, a minha mãe ofereceu-me uma boneca grávida também. Estranho, sim. Mas ainda mais fascinante do que uma Barbie perfeita, era para mim por descobrir o que se passava dentro dessa aparente perfeição, agora transmutada: poder destacar uma barriga de uma boneca para ver o que trazia lá dentro foi, sem dúvida, fundamental para perceber como chegaria o meu irmão a casa - “gosto de ser uma decoração útil”, diz a Barbie algures no filme de Greta Gerwig.
Depois de assistir ao filme no cinema, discutia com amigos ao jantar o que tínhamos retirado do filme.
Houve quem elogiasse a representatividade da Barbie negra, da Barbie transexual, da Barbie gorda. Houve quem exaltasse a importância de “pôr o homem no seu lugar” (citando frase algures ouvida), como se por se ver de repente numa realidade paralela em que é subrepresentado, os Kens fora do ecrã de súbito percebessem como deviam tratar as mulheres que os rodeiam, e quão frágeis são as linhas da agressão quotidiana do patriarcado.
Entretanto, enquanto a semana de inauguração do filme é a mais lucrativa de sempre na realização de uma mulher, o CEO da Mattel, Ynon Kreiz, terá recentemente dito numa entrevista: “A nossa ambição é criar franchises [foco no plural] de filmes.” - e a Mattel Films, a principal produtora (uma da muitas) do mesmo filme, já anunciou 14 filmes que se seguem (um deles sobre o Uno, o que é simultaneamente bizarro e curioso e outro, que será potencialmente Lena Dunham a realizar, sobre… as Polly Pockets!).
Numa altura em que se começam a considerar (mais) seriamente conceitos como o body-positive movement, a discussão de temas relativos à saúde mental e à forma como esta está relacionada com a rigidez de estereótipos sobre o corpo, a identidade e orientação sexual, ou mesmo com o poder económico das mulheres, imaginei que esta imensa campanha cosmética (pun intended) da Mattel pudesse advir do declínio das vendas da Barbie nos últimos tempos - e, logo na primeira pesquisa, surge um artigo da BBC de Julho deste ano: “Barbie: Toy maker Mattel looks to more movies as sales fall”. Questiono-me então se as mães deixarão de comprar Barbies para as suas crianças, apesar (ou precisamente por causa) do sucesso que este filme tem feito.
Tido por muitos como o grito feminista de que precisavam as meninas-hoje-adultas que sempre quiseram ter a veneração pelas suas Barbies finalmente justificada, usa-se a ideia de subversão do poder hegemónico como retrato perfeito daquilo que deve ser feito para acertar contas numa sociedade.
Ken olhava de longe a Barbie, apaixonado porém ressentido por não receber dela igual interesse, enquanto, todas as noites, ela fazia as suas “noites de meninas”, com maquilhagem e lutas de almofada. Mais tarde, depois de um passeio pelo mundo real e de perceber como pôr em prática o vantajoso patriarcado, ele grita, impondo a sua nova ordem: [Agora], “Todas as noites são noites de rapazes.”
Dado interessante: Marx acreditava que a luta de classes conduziria a processos políticos, que levariam a consequentes revoluções, necessárias para que o processo histórico avance e se desenvolva. Mais: a forma de produção anterior deveria desaparecer para ser substituída por outra.
Face à revolta dos Kens, as Barbies não vêm outra opção se não a de “acordar” politicamente as suas companheiras de classe, vítimas de uma lavagem cerebral súbita pelos machos dominantes - “Num minuto eu era a presidente, no outro estava a cortar um bife para o Ken.”, diz uma delas, acordando, de novo, para a sua realidade de prémio Nobel ou Presidente da República ou jornalista conceituada, voltando às fatiotas impecavelmente pontuadas com jóias que não podiam, claro, deixar de incluir safiras cor de rosa.
Enquanto exército renovado, a Barbie, desta vez acordada para a fragilidade da sua sociedade, apenas aparentemente sólida sob um véu de empatia e conjuntos de saia-casaco, decide então renovar o guarda roupa: qual Reforma Agrária maoísta, surgem as Barbies com um ar vagamente militarizado (e o Allan, mas ninguém fala dele porque é a figura mais interessante do filme), determinadas a recuperar os seus direitos. Envergam, sem excepção, impecáveis macacões cor-de-rosa que, estranhamente, ali existem em todos os tamanhos e para todas as bolsas.
Simultaneamente, vêem-me à cabeça flashbacks da série “O Sexo e a Cidade”, em que se pode ser feminista, sim, em que se pode falar abertamente sobre sexo e sobre dinheiro e sobre poder, sim, mas apenas gastando a quantia certa de dinheiro em sapatos e almoços em sítios tão chiques que têm um banquinho ao lado de cada cadeira, para que as senhoras possam pousar as respectivas malas que valem mais de 3 salários mínimos (cada uma). Algures num compêndio das mais famosas frases da série, podemos encontrar: “When I first moved to New York and I was totally broke, sometimes I bought Vogue instead of dinner. I found it fed me more.”
Mas rapidamente o sonho molhado maoísta se esvanece nas mãos de um exército cor de rosa que cede ao compromisso de um encontro de necessidades, muito vincadamente binário, onde haverá sempre espaço para o rosa, mas também para o azul. E onde as personagens menos visíveis no mundo Barbie (a Barbie Grávida, a Barbie Esquisita (a mais humana, afinal de contas) e o Allan - que é “só o Allan”, como o mesmo se apresenta - continuam pouco visíveis, ainda que por um momento tenham sido úteis para alavancar este fugaz momento de revolução necessária.
A minha cabeça desce de novo à terra e ouço então o Daniel, talvez o Allan da minha infância, sujeito de cerca de 30 anos que, sob todos os aspectos, é o anti-Ken dos anti-Kens, que cresceu a brincar com dinossauros: “Não podes pôr representatividade numa caixa com um preço”, por mais emocionante que tenha sido o monólogo de Gloria (America Ferrara), a operária da Mattel que sonha com a revolução.
Ouço também a Gabriela, brasileira, negra, migrante em Portugal há precisamente seis anos e seis meses: “Esse filme é um lobo com pele de cordeiro”.
Ainda assim, firmo as palavras de Gloria: “É literalmente impossível ser uma mulher.” - sobretudo se a Barbie, no mundo real, acha possível ir bem disposta ao ginecologista.
Penso na minha Barbie Grávida, desmontável e barata, no marketing feminista-liberal e nas palavras de Paul Preciado: “Cavidade potencialmente gestacional, o útero não é um órgão privado, e sim um espaço biopolítico de excepção, ao qual não se aplicam as normas que regulam o resto das nossas cavidades anatómicas. Como espaço de excepção, o útero parece-se mais com um campo de refugiados ou uma prisão do que com o fígado ou o pulmão.” (in Um Apartamento em Urano).
Bebemos mais um copo e concordamos então que, em sítios com o dinheiro e os tentáculos de Hollywood, existe representatividade desde que financiada, quer isso signifique uma Barbie-Burnout, uma Barbie-Bissexual ou uma Barbie-Hitler.
Mas que, na vida real, o dinheiro não paga sapatos Manolo Blahnik ou conjuntos de saia-casaco Chanel, ou sequer a visibilidade dos invisíveis: esses continuam a gastar dois terços do salário na renda astronómica de um apartamento pequeno numa cidade gentrificada. E o que restar não poderá pagar uma Barbie da Mattel, com certeza.
Mas talvez compre um bilhete de cinema.