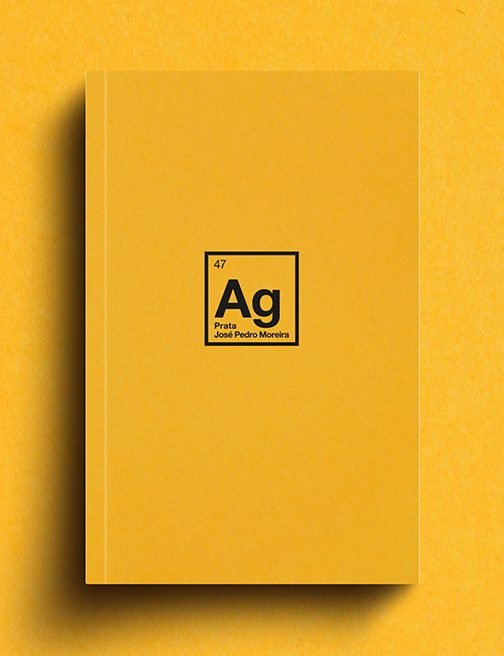In memoriam Ana Luísa Amaral (1956-2022)
Um dos meus poemas preferidos de Ana Luísa Amaral passa-se num café inglês. Chama-se “Lugares Comuns.” Nele, uma mulher a fazer tempo para apanhar um avião entra num café manhoso em Londres. Em parte, gosto desse poema porque aquele café me é familiar. Tenho a certeza de que já lá entrei muitas vezes, embora não faça a mínima ideia de onde fica ou que café possa ser ao certo. Na verdade, à medida que vamos lendo o poema, fica claro que todos sabemos que café é este e que todos já lá entrámos, em Londres e noutras cidades. A qualidade do café não é má, mas também não é espetacular e muitas vezes temos sido cúmplices deste café. A qualidade é, na verdade, melhor do que tínhamos esperado em face do sítio. Neste poema, no entanto, a familiaridade do lugar aponta constantemente para a absoluta necessidade de o estranharmos. E acho que esta tensão entre estranheza e familiaridade, tantas vezes traduzida num jogo entre escala épica e quotidiano noutros poemas de Ana Luísa Amaral, é um dos aspectos mais singulares da sua poesia. É algo que está muito vivo na relação com coisas, pessoas, lugares que aparecem noutros poemas. É uma das coisas de que mais gosto no seu estilo.
Neste poema em particular, este manhoso café inglês que é um lugar-comum está povoado de homens. Exactamente vinte e três, diz-nos a narradora. Uma mulher entra então num manhoso café inglês onde está sentada uma tribo de vinte e três homens e apenas uma mulher (quieta, a ler a um canto) e, assim nos é dito, ao entrar, “todos os preconceitos” de mulher da narradora vieram ao de cima: só havia homens a comer bacon com ovos e tomate. O outro preconceito não tem muito a ver com comida, mas a narradora repara que, estando sozinha neste café onde só há homens, não é necessário querer saber muito deles, que os homens ingleses até nem se metem muito com mulheres, ao contrário dos “nossos” (homens portugueses, isto é). Reparo que nunca em momento nenhum do poema o cheiro do café é descrito, mas a impressão desse cheiro entranha-se em nós à medida que vamos lendo. A narradora diz-nos que o café é manhoso, mas não é mal-intencionado e que ao ver a mulher que lê a um canto se sentiu mais forte e que não sabe porque é que se sentiu mais forte, mas que assim foi. A voz que se ouve no poema é parte da instabilidade que constantemente nos acompanha ao lê-lo.
A instabilidade do olhar da narradora, que se expressa com uma ironia sarcástica, mistura de familiaridade e desconforto, que não é muito raro uma mulher sentir em certos cafés manhosos por esse mundo fora, é decisiva na forte impressão opressiva que nos é comunicada. Este poema sobre este café que é um lugar-comum lembra-me um pouco a cena de abertura do Inglorious Bastards de Quentin Tarantino. E imagino que talvez Ana Luísa Amaral se risse desta comparação e talvez discordasse. Mas é uma mistura de opressão e potencial de violência que só sentimos quando damos com as forças mais opressivas da história. Começa com o facto de que, com um sarcasmo magistral, que satiriza em apenas uma estrofe tanto o colonialismo português, quanto o inglês, quanto o provincialismo mesquinho de ambos, deixando-o a pairar sobre o palco do poema, e que segue uma linha que continua no breve diálogo que a narradora tem com o homem que lhe serve o café, cujo sotaque cockney se houve de longe numa das frases mais batidas que empregados de cafés manhosos gostam de dizer a mulheres em cafés de Londres: “There you are, love.” Consigo ouvir o sotaque e a inflexão com que esta frase é pronunciada não só quando a imagino proferida em poemas de Ana Luísa Amaral passados em cafés manhosos de Londres, mas dita por motoristas de autocarro, vendedores de bilhetes de comboio, polícias... e reparo que é sempre um homem que a profere. Claro que numa década de viver em Inglaterra é bem provável que em algum ponto uma mulher que me tenha vendido um café algures me a tenha dito, talvez até muitas vezes. Mas nunca me lembro dessa frase dita numa voz feminina. Admito que é um preconceito de mulher dizer que esta é uma frase para ser dita por um homem.
A outra coisa que causa tensão e instabilidade no poema, e que explica porque é que ele me faz pensar em Tarantino, é a resposta que a narradora imagina dar a este homem, “go to hell,” mas é uma frase que nunca é proferida. E a outra ponta solta do poema é a mulher calada a ler a um canto, com a sua força inexplicável, com o seu “That’s it” de leitora absorta, pronunciado quase no fim do poema, que comunica força à outra mulher. E penso que parece que este poema não muda nada, mas há nele um olhar profundo que denuncia tudo. E uma vez visto o que ele descreve, não é possível deixar de o ver. Denuncia a complacência com que olhamos os lugares-comuns, as nossas baixas expectativas em relação a eles, o facto de que queremos passar por eles incólumes, não respondendo apenas para beber o nosso café em paz (não parece, mas neste café há um eco oblíquo de outro café, um pouco mais mítico, que um poeta português bebe noutro sítio da Europa, o de “Em Creta com o Minotauro”), um tipo de violência quotidiano e intolerável que de tão entranhado deixamos de o ver, tão entranhado que destrói até o outro mais provinciano dos mitos e preconceitos portugueses, o de que lá fora é que é, porque dentro das nossas fronteiras já não há nada a fazer. Exceptuando que esta mulher que entra neste café sai dele e sabe exactamente o que ele significa, e sabe explicar o que é que ele quer dizer, e no fim está menos sozinha porque encontra até a voz da outra mulher.
O meu café preferido em Londres fica em Monmouth Street. Vou lá normalmente para encontrar-me com uma amiga que gosta de se sentar ali a ler ou a escrevinhar. E nunca entrei neste café, que não é manhoso, nem nunca os meus olhos deram com os desta amiga quando ela os levanta do que está a fazer, sem me lembrar deste poema de Ana Luísa Amaral. Talvez os poetas de quem gostamos continuem vivos no amor que temos aos poemas que deles mais amamos, na forma como vemos o mundo pela lente desses poemas. Podemos perder coisas que nunca nos aconteceram. Sinto uma tristeza indizível de não ter conhecido melhor Ana Luísa Amaral e de agora não a poder levar a beber um café em Monmouth Street. Mas quero crer que ela está agora no céu dos poetas, a beber um café com Emily Dickinson.
O poema pode ser ouvido lido e ouvido aqui na sua voz.
Tatiana Faia
Oxford, 7 de Agosto de 2022