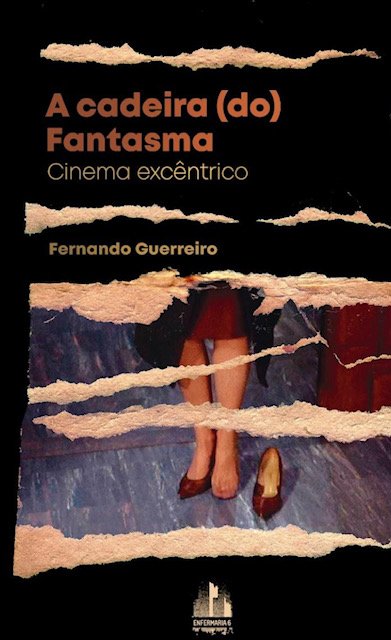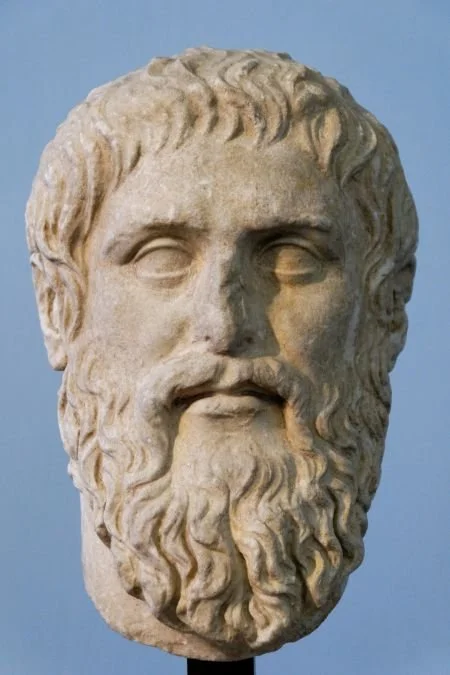A Cadeira (do) Fantasma, pelo autor (Fernando Guerreiro)
/MARNIE
1.
Comecemos pela capa.
A imagem corresponde a um fotograma em que Marnie (Tippi Hedren), depois de roubar o cofre da empresa em que trabalha, e ao ouvir os sons da mulher da limpeza ali mesmo ao seu lado, se descalça e pára num seuil (fronteira) que ela não sabe ainda muito bem como atravessar (toda a sequência é filmada num plano único, em silêncio e em continuidade, com o ecrã dividido ao meio por essas duas acções).
Daí a incerteza e descompostura do corpo com um pé ainda calçado e o outro já sem sapato: atravessará ela, ou não, esse limiar? (Em boa verdade ela já o ultrapassou – este não é o seu primeiro roubo – pelo que o problema é o da compulsão à repetição do acto).
O plano é semelhante ao de Vertigo em que vemos Judy (Kim Novak) a sair de outra “caverna” (cripta): a casa de banho do quarto que ocupa e em que se compõe (metamorfoseia) como Madeleine, o “fantasma” de Eurídice por que anseia e clama durante todo o filme Scottie (James Stewart). (Em Marnie, aliás, há várias situações em que o personagem, e a actriz, se metamorfoseia(m) noutra “pessoa”: é o que sucede logo no início quando ela passa de “morena” [brunnette] a “loura” – uma cena que é introduzida pelo próprio Hitchcock que, numa das suas habituais aparições, a vê passar no corredor do hotel em que procederá à sua transformação de Marion (Holland) – sim, o nome de outra “ladra” (e loura) famosa (Janet Leigh), a de Psico – em Marnie (Edgar).
O aparecimento de Madeleine, claro, é o do próprio cinema enquanto dispositivo que nos dá a ver mutações (transformações) de corpos (e formas) em acto (E de facto, se Judy e Madeleine, enquanto personagens de ficção, morrem, ficará para sempre na nossa memória o acto da sua tão precária aparição/ reanimação, contra todas as expectativas, perante os nossos olhos).
No entanto, Marnie (Tippi Hedren, ela própria um “avatar” de Kim Novak [no filme , Marnie tem vários traços da persona de Madeleine: o formalismo convencional das roupas, o mesmo arranjo de cabelo, com o caracol em espiral, quando vista de costas]), ao contrário de Judy (Kim Novak) sobrevive e nessa medida, tendo de passar por outro pórtico apertado – o do pesadelo vivo do trauma que a marcou na infância (veja-se o flashback final em que revive o “crime original” de que é o produto e criação) –, configura-se aqui como uma Eurídice que pela segunda vez regressa para salvar o real (para que ele não se afunde) e, com ele, o cinema (admirável, deste ponto de vista, é a cena em que, no barco de cruzeiro, Mark [Sean Connery] a descobre a boiar de costas na água da piscina e a consegue reanimar, trazendo-a de novo da baía de São Francisco onde se afogara anos antes em Vertigo).
Como em certa medida sucede com Psico – aqui não só Marnie retoma o personagem de Marion como uma mãe castradora é um personagem relevante dos dois filmes –, Marnie continua e refaz Vertigo mas agora do ponto de vista de Judy (dos seus “fantasmas” e “imaginário”), um mobile de ficção e hipótese de ser a que aqui se dá um novo corpo, aura e presença, entreabrindo-se-lhe a possibilidade de um outro futuro.
2.
Poder-se-á ainda dizer que o livro é também ele uma espécie de piscina ou aquário em que corpos, situações e figuras mergulham para dele (re)emergir mudados, com novas formas, propriedades e modos de ser em que, se o quisermos e nos esforçarmos, temos a oportunidade de nos projectar e (re)fundir para desse modo reformular e reatar com a nossa existência?
Jean Louis Schefer, num livro de 1995 justamente intitulado Question de style (L’Harmattan), observa que se escreve (pensa) para “gerar formas”=”objectos”, ou seja, “hipóteses”=”teorias” (olhares sobre e para dentro) que podem servir para construir (obstruir e ao mesmo tempo des-lindar) ficções em que o segredo do real e o do sujeito se encontram entrelaçados e mutuamente incluídos: “o que legitima a interpretação”, escreve, é a sua “parte de ficção”.
O livro, sempre uma “formação”, entidade viva mental-sensacionalista, vê-se aqui entendido como um “retardador” ou “acelerador” de partículas que, nos interstícios da sua substância (ao mesmo tempo concreta e imaginária), é capaz de abrir frechas, áleas, ou mesmo saídas na engrenagem (monótona e repetitiva) em que regrediu e parece ter emperrado a fábrica poiética do mundo.
Como com o cinema ou os filmes, afinal.
Fernando Guerreiro
(Livraria Linha de Sombra
[Cinemateca], 5 de Novembro 2021)