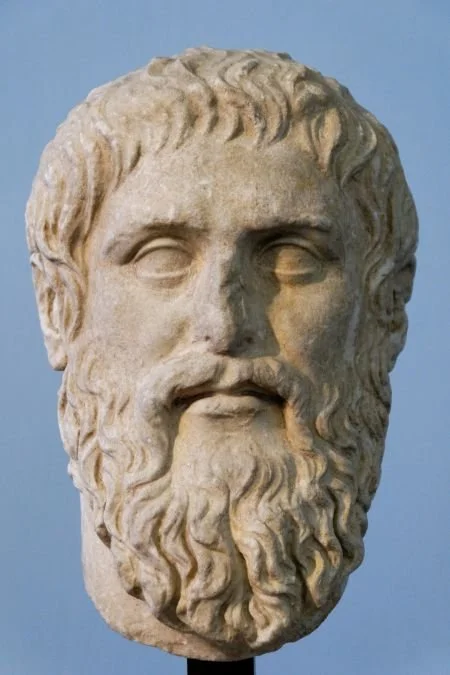Tradução de João Coles
I
Só o amar conta, só o conhecer
é que conta; não o ter amado,
não o ter conhecido. Dá angústia
viver de um consumado
amor. A alma não cresce mais.
E eis que no calor encantado
da noite que cheia cá em baixo
entre as curvas do rio e as dormentes
visões da cidade espalhada de luzes,
ecoa ainda mil vidas,
desamor, mistério, e miséria
dos sentidos, tornam-me inimigas
as formas do mundo, que até ontem
eram a minha razão de existir.
Aborrecido, cansado, recolhido, por obscuros
largos de mercados, tristes
ruas em volta do porto fluvial,
entre as barracas e os armazéns mistos
até aos últimos prados. Ali é mortal
o silêncio: mas abaixo, na Avenida Marconi,
na estação de Trastevere, parece
todavia doce a tarde. Regressam aos seus bairros,
aos seus arrabaldes, nas suas motoretas -
de fato de treino ou de fato-macaco,
mas arrebatados por um ardor festivo -
os jovens, com os amigos nos assentos,
risonhos, emporcalhados. Os últimos fregueses
chalreiam de pé em alta
voz na noite, aqui e ali, nas mesitas
dos bares alumiados e semi-vazios.
Estupenda e mísera cidade,
que me ensinaste o que alegres e ferozes
aprendem os homens ainda crianças,
as coisas pequenas nas quais a grandeza
da vida em paz se descobre, como
ir rijos e preparados para o tropel
das ruas, abordar outro homem
sem tremer, não envergonhar-se
de olhar para o dinheiro contado
pelos preguiçosos dedos do estafeta
que sua contra as fachadas com pressa
numa cor eterna de verão;
a defender-me, a ofender, a ter
o mundo diante dos meus olhos e não
apenas no coração, a compreender
que poucos conhecem as paixões
pelas quais vivi:
não me são fraternos e, ao mesmo tempo, são
irmãos precisamente no ter
paixões de homens
que alegres, inconscientes, inteiros
vivem de experiências
alheias a mim. Estupenda e mísera
cidade que me obrigaste a
provar daquela vida
ignota: até me fizeste descobrir
o que, em cada um, era o mundo.
Uma lua moribunda no silêncio,
que dela vive, empalidece entre violentos
ardores, que miseravelmente na terra
muda de vida, em belas alamedas, velhas
ruelas, que sem dar luz deslumbram
e, em todo o mundo, se reflectem
lá em cima, numa morna nebulosidade.
É a mais bela noite do Verão.
O Trastevere, com um cheiro a palha
de velhos estábulos, de tascas
vazias, ainda não adormeceu.
As esquinas escuras, as paredes plácidas
ressoam de ruídos encantados.
Homens e rapazes voltam para casa
- sob grinaldas de luzes agora sol -
rumo às suas vielas, que entopem
o escuro e o lixo, com aquele passo brando
do qual tanto a alma era invadida
quando amava verdadeiramente, quando
verdadeiramente queria compreender.
E, como então, desaparecem cantando.
II
Pobre como um gato do Coliseu
vivia num bairro todo de cal
poeirento, longe da cidade
e do campo, apertado dia após dia
num autocarro sufocante:
a cada ida, a cada volta
era um calvário de suor e ansiedade.
Longas caminhadas numa caligem cálida,
longos crepúsculos diante das cartas
amontoadas sobre a mesa, entre ruas de lodo,
muretes, casinhas banhadas de cal
e sem postigos, e cortinas como portas...
Passavam o azeitoneiro e o trapeiro,
vindos de outro bairro qualquer,
com a sua empoeirada mercadoria que parecia
fruto de furto, e com uma cara cruel
de jovens envelhecidos entre os vícios
de quem tem uma dura e esfomeada mãe.
Renovado pelo mundo novo,
livre – uma labareda, um bafo
que não sei explicar, na realidade
que humilde e suja, confusa e imensa,
formigava na periferia meridional,
dava um sentido de piedade serena.
Uma alma em mim, que não era só minha,
uma alma pequena naquele mundo sem fronteiras,
crescia, nutrida pela alegria
de quem amava, apesar de não ser amado.
E tudo se iluminava com este amor.
Talvez de rapazote, heroicamente,
e contudo maturado pela experiência
que nascia ante os pés da história.
Estava no centro do mundo, naquele mundo
de arrabaldes tristes, beduínos,
de amarelas pradarias varridas
sempre por um vento sem paz,
viesse do mar quente de Fiumicino,
ou dos campos, onde se perdia
a cidade entre os tugúrios; naquele mundo
que podia somente dominar -
espectro quadrado amarelado
na bruma amarelada,
furada por mil filas idênticas
de janelas gradeadas - a Penitenciária
entre velhos campos e casarios sopitados.
A papelada e o pó, que cego
o vento arrastava para cá e para lá,
as pobres vozes sem eco
das mulherzinhas vindas dos montes
Sabinos, do Adriático, e aqui
acampadas, agora com chusmas
de rapazitos duros e mirrados
aos berros nas suas camisolas esfarrapadas,
nos calções cinzentos e queimados,
o sol africano, as chuvas violentas
que tornavam as ruas em torrentes
de lodo, os autocarros no terminal
afundados no seu canto
entre uma última franja de relva branca
e alguma pilha de lixo ácida e ardente...
era o centro do mundo, como estava
no centro da história o meu amor
por ele: e nesta
maturidade que por ser recém-nascida
era ainda amor, tudo estava prestes
a tornar-se claro – era
claro! Aquele subúrbio desnudo ao vento,
não romano, nem meridional,
nem obreiro, era a vida
na sua luz mais actual:
vida, e luz da vida, plena
no caos ainda não proletário,
como pretende o burdo jornal
da célula, o derradeiro
hastear da rotogravura: osso
da existência quotidiana,
pura, por ser tão demasiado
próxima, absoluta por ser
tão demasiada e miseravelmente humana.
III
E agora volto a casa, rico daqueles anos
tão novos que jamais teria pensado
em considerá-los velhos numa alma
a eles longínqua, como a cada passado.
Subo as alamedas do Gianicolo, detenho-me
num cruzamento art nouveau, num largo arborizado,
numa muralha truncada – já nos confins
da cidade e da ondulada planície
que se abre sobre o mar. E renasce
na minha alma – inerte e sombria
como a noite abandonada ao seu perfume –
uma semente já demasiado madura
para ainda dar fruto no cúmulo
de uma vida cansada e acerba...
Eis a Villa Pamphili, e na luz
que tranquilamente reverbera
sobre as novas paredes, a rua onde vivo.
Perto de minha casa, reduzido
sobre a relva a uma baba obscura,
um rasto sobre os abismos escavados
de fresco, no tufo – silenciada a raiva
de destruição –, trepa contra prédios ralos
e pedaços de céu, inanimada,
uma escavadora...
Que pena me invade, diante destes instrumentos
supinos, espalhados aqui e ali no lodo,
diante deste trapo vermelho
que pende de um cavalete, no canto
onde a noite parece mais triste?
Porque é que, nesta apagada tinta de sangue,
a minha consciência tão cegamente resiste,
se esconde, como que aflita no seu âmago
por um remorso que a contrista?
Porque é que dentro de mim levo o mesmo pressentimento
de jornadas para sempre infrutíferas
que está no morto firmamento
no qual empalidece esta escavadora?
Dispo-me num dos mil quartos
onde na rua Fonteiana se dorme.
Sobre tudo podes escavar, tempo: esperanças,
paixões. Mas não sobre estas formas
puras da vida... Reduz-se
a elas o homem, quando alpestres
estiverem a experiência e a confiança
no mundo... Ah, os dias de Rebibbia,
que eu julgava perdidos numa luz
de necessidade, e que agora os sei tão livres!
Junto com o meu coração, então, por difíceis
casos que lhe haviam extraviado
o caminho em direcção a um destino humano,
ganhou em ardor a clareza
negada, e em ingenuidade
o negado equilíbrio – à clareza
e ao equilíbrio também se juntou,
nesses dias, a mente. O cego
arrependimento, sinal de cada minha
luta contra o mundo, era empurrado, aliás,
por ideologias adultas embora inexperientes...
Tornava-se o mundo tema
já não de mistério mas de história.
Multiplicava-se por mil a alegria
de o conhecer – como
cada homem, humildemente, conhece.
Marx ou Gobetti, Gramsci ou Croce,
estavam vivos nas vivas experiências.
Mudou a matéria de um decénio de obscura
vocação, quando me empenhei em trazer à luz
aquilo que me parecia ser a figura ideal
para uma geração ideal;
em cada página, em cada linha
que escrevia, no exílio de Rebibbia,
havia aquele fervor, aquela presunção,
aquela gratidão. Novo
na minha nova condição
de velho trabalho e velha miséria,
os poucos amigos que vinham
a minha casa, nas manhãs ou nas noites
esquecidas na Penitenciária,
viram-me dentro de uma luz viva:
plácido, violento revolucionário
no coração e na língua. Um homem floria.
IV
Aperta-me contra a sua lã envelhecida,
perfumada de bosque, e pousa
o focinho com as suas presas de varrão
ou de urso errante de bafo de rosa,
sobre a minha boca: e ao meu redor o quarto
é uma clareira, a colcha consumada
pelos últimos suores juvenis, dança
como um véu de pólen... E de facto
caminho por uma rua que avança
entre os primeiros prados primaveris, desfeitos
numa luz de paraíso...
Transportado pela onda dos passos,
esta que deixo para trás, ligeira e miserável,
não é a periferia de Roma: «Viva
México!» vê-se escrito a cal ou gravado
sobre as ruínas dos templos, sobre os muretes nos cruzamentos,
decrépitos, leves como ossos, nos confins
de um céu ardente sem calafrios.
Ei-la, no cume de uma colina
entre as ondulações, misturadas com as nuvens,
de uma velha cadeia apenínica,
a cidade, meio vazia, apesar da hora
matinal, quando as mulheres vão
às compras – ou no lusco-fusco que doira
as crianças que correm com as mães
pelos pátios da escola fora.
As ruas são invadidas por um grande silêncio:
as calçadas um pouco desconexas perdem-se,
velhas como o tempo, cinzentas como o tempo,
e duas compridas fileiras de pedra
percorrem lúcidas e gastas as ruas.
Alguém se mexe naquele silêncio:
alguma velha, algum rapazote
alheado nos seus jogos, donde
portões de um doce Quinhentos
se abrem serenamente, ou um poço
ornado de insectos nos bordos
pousados na relva escassa,
num qualquer cruzamento ou canto esquecido.
No cume da colina estende-se a erma
praça do município, e de uma casa
a outra, para lá de um murete, e do verde
de um castanheiro, avista-se
o espaço do vale: mas não o próprio vale.
Um espaço azul celeste que treme
ou apenas céreo... Mas o Corso continua
para lá daquela praceta familiar
suspensa no céu apenínico:
entra nas casas mais apertadas, desce
um pouco, a meia-encosta: e mais abaixo
– quando as casinhas barrocas se rarefazem –
eis que aparece o vale – e o deserto.
Só mais alguns passos
até chegar à esquina, onde a rua
se assoma entre pequenos prados nus, íngremes
e encrespados. À esquerda, contra a ladeira,
uma igreja quase desmoronada,
ergue-se coberta de frescos azuis,
vermelhos, uma abóbada repleta de volutas
ao longo das cicatrizes apagadas
do desabamento – do qual somente a
imensa concha permanece
às escâncaras contra o céu.
É ali, do lado de lá do vale, do deserto,
que sopra um ligeiro vento, desesperado,
que inflama a pele de doçura...
É como aqueles odores que, dos campos
regados de frescura, ou das margens de um rio,
sopram sobre a cidade nos primeiros
dias de bom tempo: e tu
não os reconheces, mas enlouquecido
pelo arrependimento, tentas compreender
se é um fogo aceso sobre a geada,
ou se são uvas ou nêsperas perdidas
num celeiro qualquer aquentado
pelo sol desta esplêndida manhã.
Eu grito de alegria, de tal maneira ferido
nos pulmões por aquele ar
que como um tepor ou uma luz
respiro contemplando o vale
…...........................................
V
Basta um pouco de paz para revelar
a angústia dentro do coração,
límpida, como o fundo do mar
num dia de sol. Reconhece-lo,
sem senti-lo, o mal,
ali, na tua cama, peito, coxas
e pés abandonados, qual
um crucifixo – ou qual Noé
bêbedo, que sonha, e ingenuamente ignora
a alegria dos filhos, que
dele, os fortes, os puros, se divertem...
enfim o dia está sobre ti,
no quarto como um leão adormecido.
Por que ruas o coração
encontra plenitude, perfeição com
esta mistura de beatitude e dor?
Um pouco de paz... E em ti desperta
está a guerra, está Deus. Mal
ressoam as paixões, mal fecha
a fresca ferida, já vais tu desbaratar
a alma, que já parecia desbaratada de todo,
nas acções do sonho que não rendem
nada... Ei-lo inflamado
de esperança – que, qual velho leão
a tresandar de vodca, pela sua Rússia
ultrajada Khrushchov jura ao mundo –
eis que tu te apercebes que sonhas.
Parece arder de paz
num feliz Agosto, cada tua paixão, cada
teu tormento interior,
cada tua ingénua vergonha
de não estares – em sentimento –
lá onde o mundo se renova.
Aliás, aquele novo sopro de vento
persegue-te, onde
cada vento cai: e ali, tumor
que se refaz, encontras
o velho crisol de amor,
o sentido, o medo, a alegria.
É ali mesmo naquele sopor
que está a luz... nesta inconsciência
de menino, de animal ou de ingénuo libertino
reside a pureza... os mais heróicos
furores nesta fuga, o mais divino
sentimento neste pobre acto humano
consumado no sono da manhã.
VI
Na labareda abandonada
do sol da manhã – resplende,
enfim, rasando os estaleiros, sobre as instalações
aquecidas – vibrações
desesperadas raspam o silêncio
que sabe desesperadamente de leite velho,
de pracetas vazias, de inocência.
Pelo menos desde as sete que aquela vibração
aumenta com o sol. Pobre presença
de uma dúzia de velhos operários,
com os trapos e as camisolas queimados
pelo suor, cujas raras vozes,
cujas lutas contra os amontoamentos dispersos
de lodo, os deslizamentos de terra,
parecem desfazer-se neste estremecimento.
Mas de entre as obstinadas deflagrações
da escavadora que, cegamente, cega
desagrega, cega aferra
como se não tivesse um fim,
um grito repentino, humano,
nasce, e aos poucos se repete,
tão louco de dor que anteconto
já nada de humano tem, e torna a ser
estridor de morte. Depois, lento,
renasce, na luz violenta,
contra os prédios cegos, novo, igual,
grito que só quem é moribundo,
no último instante, pode deitar
neste sol que cruelmente ainda resplandece
já um pouco amansado pela maresia...
Aos gritos está, devastada
há meses e anos de suores
matinais – acompanhada
pela legião muda de talhadores de pedra,
a velha escavadora: mas, com ela, a fresca
e assolada escavação, ou, na estreita fronteira
do horizonte novecentista,
todo o bairro... É a cidade,
afundada num fulgor de festa,
- é o mundo. Chora aquilo que tem
fim e recomeça. Aquilo que eram
verdes campos, espaço aberto, torna-se
num pátio branco como a cera,
fechado em decoroso rancor;
aquilo que era quase uma velha feira
de revestimentos frescos de argamassa ao sol,
torna-se num novo ilhéu, que ferve
numa ordem de extenuada dor.
Chora aquilo que cala, para
também melhorar. A luz
do futuro não cessa de nos ferir
por um instante: está ali, queima
cada acto do nosso quotidiano,
angustia também a confiança
que nos dá vida, está no ímpeto gobbettiano
a favor destes operários, que calados levantam,
no bairro da outra frente humana,
o trapo vermelho da sua esperança.
1956
Uma nota à escavadora
Publicados em avulso em 1956, e mais tarde reunidos num só volume em 1957, os poemas que constroem Le ceneri di Gramsci estão carregados de uma grande força ideológica, uma poesia-denúncia, e cujo símbolo é o nome de Gramsci, com o qual Pasolini intentou individualizar a revolução de ideologia marxista. Estes poemas foram reunidos em 1957 num momento histórico muito delicado para a esquerda: o vigésimo Congresso do Partido Comunista da União Soviética, a condenação de Estaline, a invasão da Hungria e a diáspora dos militantes do Partido Comunista Italiano. O livro de Pasolini surge como um acontecimento propício, actual, onde expõe as contradições da época. Uma palavra que sempre acompanhou a sua poesia foi passione. E a paixão de Pasolini, quase juvenil, é a sua pedra-de-toque para a compreensão do mundo como uma sua extensão. É com esta paixão, quase bipolar, sempre de extremos, com que nos apresenta a sua realidade/consciência da Itália: é a favor e contra Gramsci, é a favor e contra a ideologia marxista, é a favor e contra a classe operária. Enfim, em “O pranto da escavadora” vemos um pouco de tudo isto, vemos a pobreza dos arrabaldes romanos e da classe operária, da luta diária pelo pão quotidiano, a violência do progresso, uma certa nostalgia da juventude que tudo isto acompanha e um grande furor revolucionário, um homem enamorado do mundo que dele acolhe todo o drama até ao ponto mais íntimo do seu coração. É uma grande demanda pelo amor que se espalha por todo o poema. Recordemos os célebre versos:
Só o amar conta, só o conhecer
é que conta; não o ter amado,
não o ter conhecido. Dá angústia
viver de um consumado
amor. A alma não cresce mais.
[...]
Toda a tentativa de dizer alguma coisa é invariavelmente infrutífera, incompleta, acabando por nunca exprimir aquilo que genuinamente queremos exprimir: "Temos álibis, pretextos para dizer alguma coisa," diz Pasolini numa entrevista, "e havendo sinceridade naquilo que disse foi uma sinceridade indirecta, por assim dizer. Tive uma certa paixão, uma certa necessidade em ser sincero ao falar consigo, mas na realidade não disse aquilo que queria ou deveria ter dito e nunca nenhum de nós o consegue dizer. O que é verdadeiro e sincero raramente conseguimo-lo exprimir...talvez num momento fortuito ou em momentos de inspiração poética. [...] Não quero com isto ser irracional. Acredito que os momentos de expressividade poética são fundamentalmente racionais. [...] A verdade verdadeira talvez se possa exprimir através da religião ou da filosofia indiana, não sei, ou pela poesia. Tudo o que eu disse nos meus filmes é pretextual, é tudo pretextual [...]. Eu desde sempre, desde os primeiros poemas friulanos, usei a expressão Provençal ab-joy, ou seja, o rouxinol que canta por alegria, mas na altura isto tinha um significado especial, de raptus poeticus, de elação, de arrebatamento poético. E esta expressão é, talvez, a chave para todas as minhas criações. Eu sempre escrevi ab-joy."