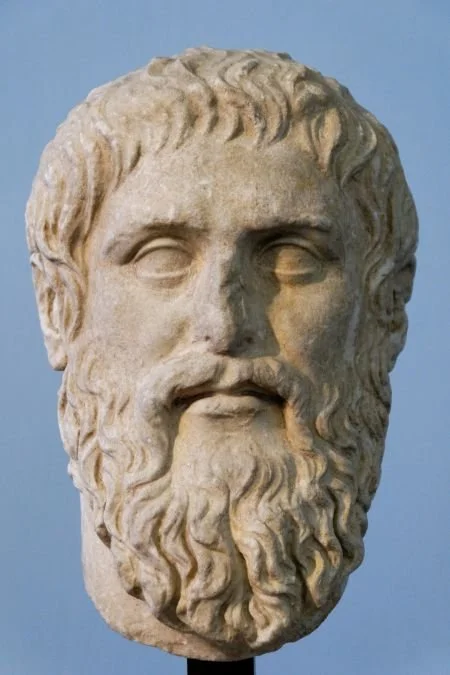Neste caldo cultural que deixa medrar os oportunistas e os medíocres, com argumentos básicos vindos tanto da velhíssima estratégia do bode expiatório quanto da inflação balofa do vetusto conceito de “soberania nacional” (o soberanismo é uma reminiscência do Ancien Régime ou, na melhor das hipóteses, a recuperação de nacionalismos camuflados por detrás da ideia da auto-determinação geográfica e cultural; em boa verdade tudo influi em tudo, não há, pois, soberanidade, sem que isto inviabilize certos níveis de autonomia), cresce a desconfiança acerca do multiculturalismo (que, aliás, sempre foi mais tolerado do que valorizado) e percebe-se o regresso de grelhas dicotómicas baseadas na inclusão/exclusão. No meio disto, aparecem, pela primeira vez há muito tempo, novas racionalidades que estão entre a abertura e o fechamento cultural, entre o desaparecimento do humanismo eurocêntrico e a refundação das nações em torno dos valores tradicionais da comunidade dominante, entre o “vale tudo” e o “só vale aquilo que é nosso”. Ilustradas, por exemplo, pela voz de Philippe Bénéton no seu mais recente livro, Le dérèglement moral de l’Occident (A Desregulamentação Moral do Ocidente, ainda sem tradução portuguesa). Nesta obra define o Ocidente como o mundo das aparências, onde o indivíduo é, de direito, rei, mas, de facto, não possui uma real autonomia. Aparentemente super-livre, o indivíduo da “modernidade tardia” está sujeito a inúmeros constrangimentos, visto que, como refere uma nota do editor, “A grande arte do nosso tempo é a de dar ao conformismo o nome de liberdade, à desregulamentação moral o nome de emancipação.” Para o autor esta dissonância resulta e amplifica a crise moral do Ocidente, uma crise profunda, nutrida, por um lado, pelo cinismo, a paródia e a negação, e, por outro, por moralismos culturalistas ou multiculturalistas.
A propósito do livro, Bénéton deu uma entrevista ao jornal Le Figaro onde refere que a origem da desregulamentação moral do Ocidente está num pensamento que só concebe duas categorias legítimas de seres humanos: a humanidade e o indivíduo. É daqui que vem o discurso hegemónico sobre as virtudes da diversidade, percebendo-se mal que quando se amplia a diversidade se valoriza o indivíduo em detrimento da humanidade, desvalorizando cada vez mais as poucas coisas comuns entre essas partículas egológicas sobre-aquecidas e mimadas da espécie humana. No limite, só se partilha uma liberdade igual, estabelecendo somente um conjunto de “regras sensatas” necessárias a estar de vez em quando com os outros. Por isso, “A democracia liberal toma um novo sentido, ele advém de uma simples mecânica, definindo-se unicamente pelos procedimentos [que realiza]. O multiculturalismo supõe que toda a gente se pode entender com toda a gente, bastando um acordo sobre as regras do jogo.” Mas, cético, Bénéton alerta-nos para essas convivências falhadas que são as relações entre sérvios e croatas, gregos e turcos, hindus e muçulmanos, flamengos e valões... Apesar disto, a Europa persiste no discurso de uma “Europa dos indivíduos”, aberta a todas as perspectivas e modos de vida, sendo os Direitos Humanos o único constrangimento válido. Isto aprofunda o relativismo moral, presente nos meios de comunicação, na economia, nas ciências ou nas relações quotidianas. Mas esta indigência moral, dobrada sobre si mesma, dá nascimento a uma nova “moral de contrabando”, que o autor define assim: “por um lado a nossa modernidade tardia assume uma libertação moral: a cada um os seus valores, cada indivíduo é soberano, viva a liberdade, abaixo o velho orgulho moral! Mas por outro lado, são definidas a boa e a má maneira de viver e de pensar.” O “Mal” não desapareceu, alojou-se em qualquer crítica ou acção contra a liberdade, o pecado está agora nas formas, por mínimas que sejam, de descriminação ou de intolerância, incarnado nas palavras, muitas vezes auto-referenciais, “racismo”, “sexismo”, “elitismo”, “xenofobia” ou “homofobia”. Isto aponta para uma nova divisão moral da humanidade: “de um lado, os representantes do novo mundo, os heróis de uma sociedade aberta ou avançada, os progressistas, os modernos, os feministas..., do outro lado os retrógrados do velho mundo, os defensores de uma sociedade fechada ou tribal, os detentores da velha ordem moral, os conservadores ou ultra-conservadores, os reaccionários, os populistas, os xenófobos […], em resumo uma divisão entre amigos e inimigos da humanidade.” Recuperação de um maniqueísmo primário (haverá outro?) que, afinal, e contra o que parece dizer, não é muito favorável à discussão livre. Aposta-se no politicamente correcto (a que Bénéton chama “opinião dominante”, sempre super-conveniente, tanto que não precisa de ser justificada), diz-se o que a nova moral preconiza, o que todos acham oportuno, vence o anódino que permite o unanimismo. Esta retórica tem um poder imenso, “ela bloqueia, intimida, tende a reduzir os adversários ou os reticentes ao silêncio.” E assim quebra-se o círculo virtuoso da discussão, da confrontação, do agon grego. Mas há também as formas de ataque pela irrisão, em vez de se discutirem ideias usa-se a caricatura, a paródia, o ridículo. É mais fácil satirizar do que argumentar. A nova casta, inimputável, é constituída pelos “filósofo radical, o sociólogo crítico, o activista dos direitos humanos, o feminista militante, o jornalista bem-pensante”. São uma “casta” porque formam algo semelhante a “um ‘partido’ informal. Um ‘partido’ poderoso que nos diz como devemos pensar, sob pena de acabarmos na categoria dos maus.”
Felizmente, acredita Bénéton, este pensamento único já não é hegemónico, embora ainda seja dominante. Continua, pois, a ser preciso compor um debate leal que conteste as estratégias sofísticas que condenam logo à partida os discursos pelas suas intenções. Bénéton deplora (talvez exageradamente, mas enfim dispõe-se à discussão) que muitos jovens andem hoje à procura deles mesmos. À pergunta “quem és tu?”, responde-se por um evanescente “eu sou... eu!”, um ser auto-produzido, sem heranças. Mas este “eu” evapora-se facilmente, órfão de referências estruturantes (família, país, religião), não aguenta um pequeno ataque de dúvida metódica. Parece que nada vale o suficiente para ser investido com um compromisso sólido, capaz, em retorno, de trazer um sentimento forte de pertença. Reina a “grosseria e a vulgaridade”, a desilusão, o niilismo axiológico; isto permite aos fanáticos islâmicos ou evangélicos denunciarem a nossa fraqueza endémica: vamos ufanos desnudar-nos ou embebedar-nos, somos carreiristas e consumistas (Gottfried Benn dizia: “Ser estúpido e ter trabalho, eis a felicidade.”), mas não vemos nada onde valha a pena arriscar a vida (forma última de avaliarmos o que somos). Depois disto, o entrevistador pergunta-lhe se não será Bénéton um nostálgico do Ancien Régime e do poder da Igreja. A resposta é “não”. Considera-se uma “liberal-conservador”, no sentido de Tocqueville, liberal porque ligado aos princípios modernos (igualdade de direitos, liberdades públicas), conservador porque preocupado em preservar o enraizamento e o compromisso, as qualidades morais e espirituais. Em resumo, o ideal liberal-conservador é o da “liberdade com bons valores”. Nada fácil. E se quisermos acabar em modo ainda mais pessimista podemos socorrer-nos novamente de Peter Sloterdijk: “Não somos suficientemente loucos na nossa vida de todos os dias para discernir correctamente a loucura que passou a ser o estado normal da nossa vida corrente e da nossa história.” (Crítica da Razão Cínica, 1983/2011, p. 489).