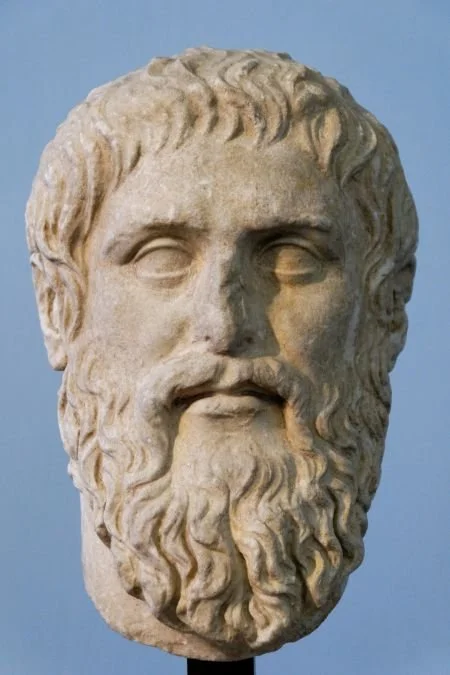Hoje em dia, o ténis é o meu desporto favorito, pratico-o há mais de vinte anos, estou nos 60 primeiros nacionais de mais de 55 anos (não tenho feito muitos torneios e, uma crença consoladora, o jogo não respeita realmente o meu talento). Objetivo último: estar nos dez melhores nacionais dentro de cinco anos. Mas não é apenas porque o pratico que o amo, uma coisa não leva, necessariamente, à outra. A quantidade de harmonia que compõe o jogo (em jogadores como Roger Federer, mas também Novak Jokovic, David Gofin, Dominic Thiem, Denis Shapovalov, Gael Monfis…), a força dinâmica que projeta (Rafeal Nadal, Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Milos Raonic...), ou o nível incrível de competitividade (os «big 3», claro, e Danil Medvedev, Andrey Rublev, Diego Schwartzan, Jannik Sinner…). Estas três dimensões (podia tê-las exemplificado com jogadores mais antigos, Peter Sampras, Andre Agassi, Roder Lever, Björn Borg, Mats Wilander…), que lhe são intrínsecas, aliadas a um respeito mútuo entre jogadores e jogadoras e uma certa elegância discursiva, com a exceção de uma franja da escola americana, fazem com que aprecie o ténis acima de todos os outros desportos. Não vou tão longe, é verdade, como David Foster Wallace, cujo artigo sobre a experiência religiosa que emana do jogo de Roger Feder assinala que o ténis soube atrair e desenvolver talentos divinos («Roger Federer as Religious Experience»). Mas estou perto de considerar que sem o ténis faltaria qualquer coisa de fundamental ao desporto, e escasseando no desporto a vida sairia diminuída.
Além disso, quando temos a disponibilidade para ler comentários de jornalistas de regiões com uma tradição forte no ténis, encontrámos análises e comentários brilhantes, como se o ténis estimulasse o pensamento e o estilo discursivo, obrigasse a uma elevação do logos para estar à altura do que se quer comentar. Foi isso que, mais uma vez, encontrei num artigo de Rémi Bourrières, para o Eurospor.fr, sobre Nick Kyrgios. Kyrgios é o mais estranho dos grandes jogadores atuais, simultaneamente conectado e desconectado com o ténis, capaz dos gestos mais incríveis e dos erros mais infantis (e no ténis, como diz Toni Nadal, uma jogada fabulosa vale tanto, quantitativamente, como um erro não forçado), competitivo e indigente, analítico e lírico, coerente e contraditório. O que o artigo de Rémi, que tentarei traduzir já a seguir (com margem para variar, o jargão desportivo é bastante idiomático), nos diz é que, finalmente, Kyrgios não faz mais do que ser o que é, vindo, aliás, a tornar-se cada vez mais igual a si. E isto, além de ter interesse para o ténis, leva-me a recordar a célebre máxima de Píndaro, retomada por Nietzsche: «Torna-te o que és!».
O texto é de sete de julho, está, pois, um pouco desatualizado. Mas creio que aguenta estar fora do tempo dos factos, e este é um bom critério para avaliar a sua qualidade.
«Ainda que se unam pelo talento e a precocidade, parece ser difícil haver mais oposição do que a que separa Nick Kyrgios e Felix Auger-Aliassime, que se enfrentarão este sábado [9 julho] num dos embates mais aguardados da terceira ronda de Wimbledon [Kyrgios desistiu quando a partida estava empatada a um sete].
Entre o jovem canadiano, estudioso e um pouco tenso, que parece colocar todas as possibilidades do seu lado, mas que ainda não ganhou qualquer final no circuito, e o seu opositor australiano, diletante e festivo, capaz de arrasar em cinco setes um jogar tão em forma como Ugo Humbert, sem antes ter jogado qualquer encontro há cinco meses (e não dando a impressão de se empenhar muito nos treinos), julgaríamos ver o aluno comprometido da primeira fila e o cábula desatento do fundo da sala que vão fazer o mesmo exame.
Qual dos dois terá, no fim de contas, a melhor carreira, se nos pudermos pôr de acordo sobre o que significa uma boa carreira? O futuro o dirá. Mas se há um que o deseja arduamente, podemos apostar que é Auger-Aliassime. Quanto a Kyrgios, há muito que deixou passar a mensagem de que nunca consentirá efetuar os sacrifícios necessários à vida de um jogador de topo.
A sua atitude na pandemia, durante a qual preferiu ficar em casa em vez de defrontar os constrangimentos sanitários para uma hipotética caça aos pontos (como o fez a sua compatriota Ashleigh Barty), não alimentou qualquer equívoco: em Kyrgios, o bem-estar pessoal estará sempre à frente das suas ambições desportivas.
No começo, aureolado pelas grandes esperanças que provocou nos juniores e depois na sua chegada tonitruante ao circuito, um quarto de final em Wimbledon com 19 anos, em 2014 — nunca conseguiu fazer melhor —, Kyrgios viu-se, também ele, provavelmente, como cabeça de cartaz. Mas só recolheu desilusões, uma pressão devastadora que não conseguiu suportar, e, no final, um certo mal-estar, que o vimos transportar de torneio em torneio, entre partidas oferecidas, derrapagens incontroladas e uma atitude por vezes arrogante. Kyrgios estava, muito simplesmente, infeliz.
Depois, passo a passo, o australiano corrigiu o tiro, reviu as suas próprias expetativas sobre o circuito, de que não gosta nem dos códigos, nem das rotinas, nem do espírito muito básico. Pouco a pouco encontrou o seu lugar: a do batedor imprevisível, rei do golpe matreiro, intermitente do espetáculo, de acordo com as suas palavras. Para tal é preciso, evidentemente, ser genial, confiante, poderoso e ter um carácter meio cabotino. Na realidade, talvez só haja no mundo uma pessoa (e não mais) capaz de jogar tão bem tendo-se preparado tão pouco [o autor deve querer referir-se a Roger Federer]. E é nisto que Kyrgios é único. Depois do sucesso contra Mager [Gianluca Mager, tenista italiano], o nativo de Canberra voltou a martelar a sua posição: sente-se bem com a ideia de nunca vir a ganhar um Grand Chelem, se esse for o seu destino. De qualquer forma, fixou-se outro objetivo: fazer soprar um vento de frescura no ténis, quebrando os códigos e comunicando à sua maneira, simultaneamente provocadora e sem filtros, tentando conquistar novos fans. E isto, é preciso reconhecê-lo, fá-lo muito bem, bastante melhor do que qualquer inovação apressada.
Não nos enganemos: se Kyrgios escolheu a via do entretenimento, foi antes de mais porque, consciente ou inconscientemente, não suportou a pressão inerente às mais elevadas ambições. Podemos lamentar-nos por ele, lamentar que uma tal pedra preciosa não tenha ainda um ou vários títulos do Grand Chelem no seu ativo. Mas, pelo menos, soube encontrar o seu lugar no circuito, ao contrário de tantos outros talentos desperdiçados, perdidos na engrenagem do sport-business.
Atualmente, em perfeita congruência entre o que é e a maneira como joga, Nick Kyrgios tornou-se, incontestavelmente, muito útil para a causa de uma disciplina que diz não amar. A sua postura reenvia-nos para uma questão existencial do desporto moderno, sobretudo quando é tão mediatizado como o ténis: é possível estar no topo sem ser uma partícula aborrecida, constrangido por atos repetitivos, falhas sistematicamente dissimuladas e asperezas continuamente aplanadas? Nick Kyrgios, quanto a ele, escolheu ser ele próprio, indomesticável e selvagem. Continuará assim, quer venha, ou não, a glória bater-lhe à porta.»