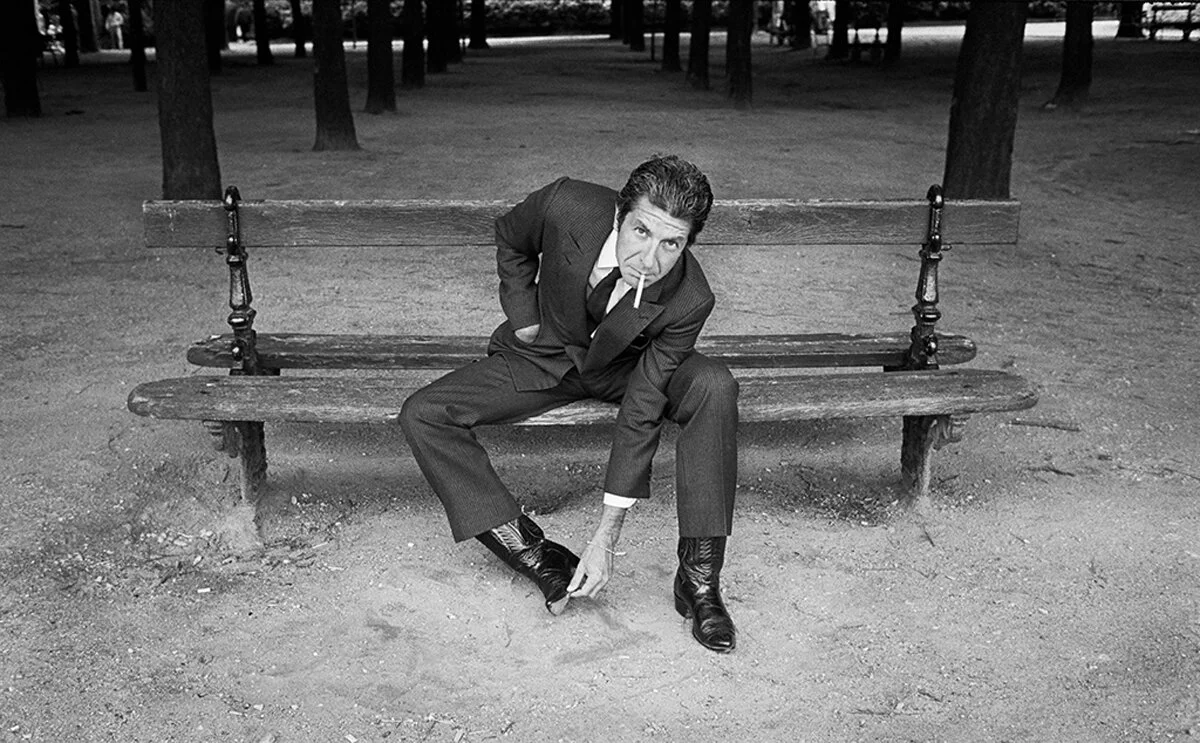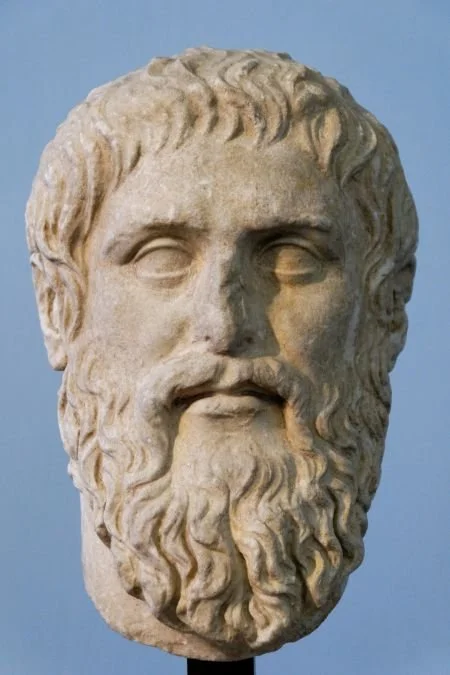Louve-se o aparecimento de um livro de filosofia (num sentido amplo, A Torção dos Sentidos segue a linha ensaística inaugurada por Montaigne), exercício de pensamento que nos habituamos a menosprezar desde que, há muito, em Portugal, lhe preferimos o lirismo ou o discurso comum. Não somos uma cultura filosófica, nunca o fomos, nunca o seremos. Uma fatalidade que construímos e com a qual nos damos bem.
Os que escaparam ao destino da indigência intelectual encontrarão neste livro bons estímulos para pensar o uso da tecnologia digital, uma crítica às sociedades capitalistas e uma fenomenologia, entrelaçada com uma hermenêutica, do amor, viagem, comunidade, estudo e arte. Se é verdade que não aderimos totalmente às teses do autor (sobretudo porque nos parece que há demasiados tipos de capitalismo para que se continue a pensá-lo uniformemente e porque a questão da desigualdade social deve ser, em primeiro lugar, abordada a partir da situação privilegiada, ou não, em que nos encontramos, uma ética antes de uma epistemologia), reconhecemos a importância do seu labor e confessamos que sentimos prazer ao lê-lo.
O capítulo inicial é sobre o que pode a filosofia perante a situação pandémica originada pelo SARS-CoV-2, um questionamento que terá várias respostas, todas, contudo, assentes num único eixo de sentido: poder de interpretar e poder de transformar. Isto segue, claro está, a inversão realizada por Marx: mais vale transformar do que interpretar, ou, no mínimo, só devemos interpretar se com isso quisermos e pudermos transformar (uma filosofia política que ocasionou, mesmo que numa versão bastarda, a civilização soviética, e agora, ainda com mais enxertos, a chinesa). Que na origem tinha uma atmosfera messiânica do reino dos fins, neste caso seria, mas o autor não vai tão longe, uma sociedade de iguais inconfundivelmente feliz. Assim, «a hipótese filosófica visa não a máxima adequação à realidade mas a máxima tensão entre a aproximação interpretativa e o distanciamento transformador.» (p. 21)
É, pois, necessário ler esta obra «com a pulga atrás da orelha» (expressão do autor), João Pedro Cachopo quer, pelo menos, transformar, com a ajuda de uma escolha calculada de comentadores (Zizek, Badiou, Byung-Chul Han, Agambem, Nancy, Rancière, Naomi Klein, Walter Benjamin…), a nossa perceção da realidade (mistura de subjetividade e objetividade, um pouco à maneira da «situação» sartriana), aderindo à sua cosmovisão. Será, então, um livro emancipador? Sim, se o lermos com a «pulga atrás da orelha».
Ora, o que Cachopo vai interpretar (para transformar) não é a pandemia em si, «as transformações que a pandemia revelou e acelerou já estavam em curso», mas as formas de aproximação e distanciamento (no amor, viagem, estudo, comunidade e arte) na era digital (evitando simultaneamente a desconfiança catastrofista e o entusiasmo ingénuo, a tecnofobia e a tecnofilia, as linhas do intelectual «apocalíptico» e, inversamente, do «integrado»). É por isso que a pandemia serve somente de lente de aumento para interpretar melhor, intempestivamente (não é a verdade enquanto adequatio que se procura), a realidade, descobrir as linhas de fuga que conduzem a previsíveis transformações, alteração «radical de os nossos modos de vida, de um modo consequente em termos éticos, políticos e ambientais». (p. 12)
Transformar matricialmente o quê? A era capitalista (neste sentido, o livro é neo-marxista), algo que alguns autores vislumbraram nos efeitos da pandemia, sobretudo com o decréscimo da produção industrial e a mudança das relações laborais. Em boa verdade, não se conseguiu «arrepiar caminho», a matriz capitalista permaneceu inalterada (não se muda uma civilização — conjunto de práticas e valores — de um dia para o outro). Mas a pandemia teve a virtude (política mais do que epistemológica) de mostrar à saciedade que «não estamos no mesmo barco» (Cachopo parafraseia Sloterdijk, invertendo a sua tese)[1], tornou ainda mais «patente as desigualdades que estrangulam o nosso planeta.» (p. 34)
Mas não sendo um livro de filosofia política, pelo menos diretamente, o autor vai pensar as transformações no «modo como sentimos, pensamos e agimos» (p. 36), tanto mais que isto, e aqui está a veia política indireta, sobrevém e influi nas transformações do «mundo» (não é indiferente em filosofia usarem-se os conceitos de mundo e de realidade, aquele é bem menos fenoménico do que este). Um mundo construído na «gritante fragilidade da engrenagem sobre a qual o capitalismo global erige o seu castelo de cartas.» (p. 39) Estamos, pois, no limiar de uma revolução, ou melhor, da revolução. Preparemos, pois, com a ajuda, entre outros, da Torção dos Sentidos, o nosso pensar, sentir e agir para o que aí vem.
E o que aí vem conterá estes últimos anos de remediação digital, mais visível durante a pandemia. A ação do digital herda a «reprodutibilidade técnica que revolucionou a experiência moderna na transição entre os séculos xix e xx» (p. 43). O digital, por exemplo, promete a «aproximação do distante», bem como uma «equalização das distâncias». Mas ao lado de promessas exequíveis e emancipadoras, há outras tantas que são de manipulação e exploração. É por isso, retomando uma ideia de Umberto Eco, que Cachopo distingue o intelectual integrado do apocalíptico, para, no final, os recusar em bloco. Acoplado às suas virtualidades, no primeiro uma «ingenuidade e leniência» (p. 58) desenvolve a ideia estéril, e filosoficamente imprecisa, de vivermos no melhor dos mundos possíveis; a partir do segundo, emerge um reacionarismo que não deixa avançar o mundo (revolução e progresso vão a par, pelo menos no discurso).
Mantém-se, pois, a pergunta: como «combater a revolução digital em defesa da experiência humana» (p. 66)? A resposta geral é a de que nos devemos orientar «não para uma rejeição genérica da tecnologia digital, mas para o discernimento dos seus usos, das suas potencialidades e dos seus perigos.» (p. 67) Salomónico. Mas, então, onde cabe a revolução? Talvez, finalmente, ela não passe de um bordão performativo, capaz de alimentar uma boa consciência que se resignou sem repousar, resignação semi-ativa.
Fiquemos, então, com uma reforma do sentido do amor, da viagem, do estudo, da comunidade e da arte. Estas parcelas do mundo ganham novos sentidos quando investidas pelo digital. Isto, diz Cachopo, sem esgotar significados, pretende somente «sugerir algumas — precárias, genuinamente indecisas — pistas de reflexão.» (p. 70) Não sabemos se esta modéstia esconde ou revela.
O amor, jogo de distância e aproximação, mas no qual o contacto entre corpos importa acima de tudo, não ganhará muito com a remediação digital, tanto mais que no namoro telemático não é possível, como muito bem viu Byung-Chul Han, ficar «olhos nos olhos», num dispositivo ou olhamos para a câmara ou para os olhos do outro, a simetria do olhar, tão decisiva, nunca acontece.
«Viajar é conhecer o mundo no contacto com ele», por isso, com o slogan «fiquem em casa», a viagem foi tão ameaçada pela pandemia. Sem deixar de ser crítico relativamente à massificação turística (quem não é?), o autor defende a necessidade de se viajar, porque só as viagens permitem certas experiências multissensoriais. Ao mesmo tempo, conhece-se o impacto ambiental, e social, negativo das viagens. Portanto, o «desafio não é deixar de viajar, mas viajar menos e melhor» (p. 77). E aqui também não é possível uma qualquer remediação digital significativa.
Sobre o estudo, recusando «elucubrações de cunho nostálgico e conservador.» (p. 80) — uma crítica a Giorgio Agamben —, concede que houve alguma remediação digital durante o enclausuramento pandémico. Contudo, nada que invertesse o novo statu quo universitário, que mais do que emancipar pelo pensamento, profissionaliza o pensamento, sobretudo o crítico. Além disso, acentuou o colapso da «hierarquia entre mestre e discípulo» (p. 82), sem que o autor nos diga que benefícios se retiravam dessa hierarquia, somos, até, tentados a ver aqui um pequeno lapso, tendo presente a críticas que faz ao desigualitarismo. Sabemos bem que a igualdade não significa ausência de hierarquia, ainda assim, sem que Cachopo nos queira explicar a sua ideia, ficamos com a «pulga atrás da orelha». Mas talvez o mais grave, continua o autor, tenha sido o desaparecimento da «vida em comum» dos estudantes, porque o «estudo é feito de encontros, atritos e colisões entre pessoas, objetos, experiências, ideias e palavras.» (Ibidem).
Na comunidade, esfrangalhada por décadas de individualismo e arrivismo, «foi o receio de não estar a salvo que motivou a comoção global, não a solidariedade.» (p. 87) Tomando de empréstimo uma ideia de Byung-Chul Han, João Pedro Cachopo vê o digital transformar o «rebanho ou a matilha» num «enxame»)[2] Assim, a remediação digital não criou qualquer novo tipo de comunidade, mas enxames, ajuntamentos de partículas pontualmente coincidentes que nunca chegam a formar um «nós». São, assim, um paliativo inconsequente para o isolamento. Daí que, com Catherine Malabou, alguns tenham, retomando o princípio rousseauniano (Les Confessions) de se retirarem para dentro deles, de combater o isolamento (resultado de não pertencerem ao enxame) com a solidão, ponto de partida para, paradoxalmente, se encontrar um «nós».
Finalmente, na arte a «verdade alternativa não é entre o acolhimento e a rejeição de novos media, mas entre usos mais e menos criativos, mais e menos ousados, mais e menos desviantes das tecnologias — incluindo as tecnologias de remediação — na prática das artes.» (p. 97) O autor justifica esta posição com exemplos de obras realizadas e difundidas telematicamente durante a pandemia.
No epílogo, do livro [e do mundo?], questiona-se a possibilidade de um «nós universal» (p. 107), capaz de renovar as «sociedades estranguladas por desigualdades». (ibidem) Mesmo sendo «universal», João Pedro Cachopo diz que o «livro prescinde de determinar a priori um “nós”».[3] (ibidem) Prescinde, porquê? Não quer ou julga ser impossível? Haverá ainda disponibilidade filosófica para se propor uma universalidade, não terá essa extravagância sido definitivamente revogada no final século xviii? Trata-se de filosofia ou de política? Seria esse nós, talvez a «vontade geral» rousseauniana, a traçar uma terceira via entre o pessimismo e o otimismo, capaz de encarar e intervir no mundo. Cuidando de não embarcar em antíteses incapazes de culminar numa dialética da síntese, o autor demarca-se de um «antiglobalismo» que parece «contribuir para o que pretende combater: o egoísmo nacional-capitalista.» (p. 109) Portanto, a passagem do «eu» para o «nós» só poderá ser realizada, bem realizada, com «experiências de estudo, arte, viagem, amor e comunidade.» (ibidem) Numa boa aliança entre «tecnologia e ecologia». (ibidem)
Desta forma, deixamos que se insinue um pequeno Pangloss e percebemos por que razão foi tão criticado o pessimismo, social e antropológico, sartriano (o «homem é uma paixão inútil» de O Ser e o Nada), pelo menos o do «primeiro» Sartre. A lógica do happy end, na economia política e emocional, continua a recompensar mais.
[1] Peter Sloterdijk, No Mesmo Barco. Ensaio Sobre Hiperpolítica, Lisboa, Edições Século XXI.
[2] Byung-Chul Han, No Enxame: Reflexões sobre o Digital, trad. Miguel Serras Pereira, Lisboa, Relógio D’Água.
[3] Pouco depois coloca-se novamente no «verdadeiro» escrevendo que se trata de «um “nós” que, mais do que pressuposto, pode e deve ser elaborado.» (p. 108)