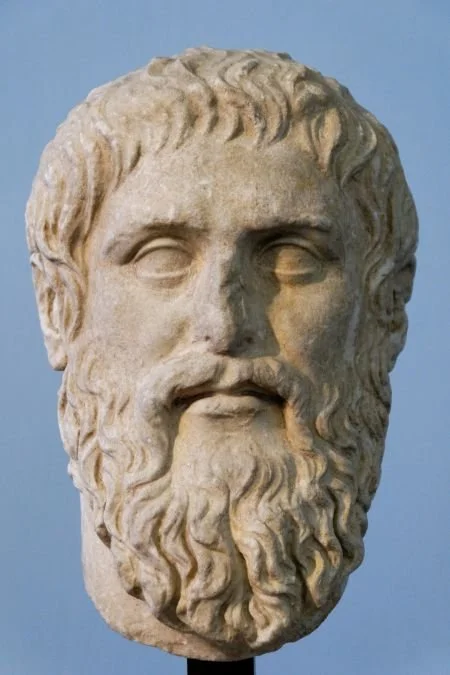Borralho
Era fácil, engolia-se a escuridão e o vazio dos dias,
Olhavam-se as paredes com força suficiente para lhes destilar
Da humidade outros significados, acreditava-se ainda
Que era possível sair-se do tempo enquanto se batia um verso,
Tornava-se a realidade palpável, mesmo que apenas no passado,
Traziam-se os dias quentes de volta, o cheiro a cona aos dedos,
Enquanto na cama ressonava o cansaço dos lábios nos outros,
A poesia fazia sentido, os dedos deixavam-se levar por um tremor
Embalado por uma harmonia quase divina, era fácil,
Bastava um copo cheio da fase que fosse, no fim o resultado
O mesmo, mas ao menos um alívio arrancado da melancolia
Eterna do cair de uma folha, na sua leveza a felicidade oxidada,
Agora isto, não esperar nada das palavras, atirar versos
De barro à parede a ver se a luz se acende e a noite longa
Como um inverno sem vinho, morre-se tantas vezes
E todas as palavras deste mundo, não tocam sequer a eternidade.
Borralho II
Bastava um canto vazio num bairro plantado num luar de Agosto,
A ideia do amadurecer das romãs antes do Inverno, o meu esperma
Que te humedecia as cuecas numa tarde ainda quente de chuva,
Abrigados do desencanto que o futuro sempre reserva,
O amor era pouco mais que a eternidade, um infinito em forma de açúcar
Derramado numa mesa de café da província, esquecer tudo
Por uma vontade maior que qualquer fome, bastava um corpo
No outro, mas o inverno consegue ser tão longo e frio,
E os anos oxidam até o brilho das estrelas, a verdade, quando o caudal
Do rio agoniza na canícula, mostra-se como os sacos com ossinhos
Dos cães e gatos que foram lançados da ponte romana,
Então basta uma palavra para a bílis se derramar na remela fresca,
Fode-se numa pressa de carne que descongela no saco da mercearia,
Só porque em casa não há um canto que não tresande ao que trazia
O luar às noites de geada e sabor ao vinho já vinagre,
Quantas vezes se repete a mesma história antes do cansaço
Nos impor uma responsabilidade do tamanho da morte.
Borralho 3
Cabernet Franc e o silêncio defunto de todas as amantes,
Hoje umas velhas, cada uma um cabelo branco, uma ruga,
Um evitar de espelho, um filho que ancorou a resignação,
Outro que afundou o que restava da juventude,
Eu acho que vivo para ser memória, um arrependimento
Que hoje nunca, um terrorista sem-abrigo confortável,
Com um trabalho essencial que nem pandemias param,
O fumo que curou o fumeiro hoje apenas nas paredes
Do que foi a própria pocilga da porca que comia
Os gatinhos recém-nascidos, oferecidos numa crueldade
Inocente, a do pior tipo que nem deus julga, engolidos
Entre merda e batatas que tinham ficado esquecidas,
Cacarejam as galinhas enquanto Rimbaud eleva a pena
De um poema no reflexo das Ardenas num buraco negro,
Eternamente, como o arrependimento, o bochecho
Oxigenado num exagero pouco definido, a eternidade,
O azul que se visita às escondidas, num pequeno-almoço
De ostras e o Hemingway a explicar ao lado, também,
O sabor de uma pêra e a morte que água de couves cozidas
Antes de um corno se enfiar na continuidade da carne,
Tudo isto é estrangeiro como os órgãos que nos levam
Ao momento que nos permite a leitura de qualquer
Movimento peristáltico, o nariz sangra contra o papel-higiénico,
O Cabernet Franc vai-se engolindo enquanto não se engasga
O tempo na sorte ou a falta dela, certo é o outono.
Borralho 4
O mais importante nesta vida é a possibilidade do silêncio,
O silêncio consciente, ouvir a rugosidade da parede nos olhos,
Não o silêncio de acordar porque alguém abriu uma porta,
Ou a carta caiu no chão, ou deixaram de nos escrever
E compensam as ausências com flores que se tornam
Plásticas e o sol arranca-lhes a cor para relembrar o esquecimento,
Isto, estar aqui às duas e meia da manhã, nada mais artificial,
No entanto, amanhecem as madrugadas na procura
Dos meus dedos por pepitas de ouro ou merda,
Uma perdição no plano cartesiano, o infinito mais próximo
Dos anos noventa do que amanhã, fazer crer que o medo
Dos cães nos dias de festa era dos foguetes e não do ridículo
Do nosso mau gosto civilizado, será o universo simétrico,
Terá um centro, uma ressaca de língua pintada,
A sombra de uma figueira onde desejar uma morte perfeita,
O mais importante nesta vida é este silêncio de dedos
Que criam nada, um caos lógico, essencial, como a ausência
Absoluta num momento do tamanho da eternidade.
Borralho V
No quarto ao lado, das duas uma, ou alguém se masturba,
Ao mesmo ritmo do toque das teclas, ou alguém me odeia e dorme,
A porta não se tranca porque o lençol seca, salpicado com esperma
Incontáveis vezes, só não se trocou o sofá por desconhecimento
Da verdadeira variedade genética entranhada no sofrimento
Das fibras, maltratadas por copos de vinho trémulos e pepitas
De chocolate, espalhadas como merda, iluminadas apenas
Por um filme de Pasolini em fevereiro, e um gajo, passada
Quase uma década, continua a esfarrapar-se todo,
Por caralhos que se esquecem da cor dos olhos logo que
Se deixam embalar pela doçura inelutável da eternidade,
Aquele gajo tentou, arfando, aquele último aperto para nada,
Este verso que se desembrulha e gostaria de ser sublime
E a vida impossível dos que a organização do caos
Tornou num destino trágico, apenas alguém se move
Na cama do quarto ao lado, a saturação dos dedos,
Inconsistente com o grau de desespero de quem espera
Um verdadeiro apocalipse que o torne o anjo anunciado
Há tantos anos atrás, quando ainda havia uma luz no cabelo
Além da prata da inevitabilidade, mas ao menos isso…
Borralho VI
Só podemos realmente digerir o que mamamos
Há uns 6000 mil anos para cá, parece a história da minha vida,
Incontáveis caganeiras, por uma fome sem enzimas,
Um turno da noite numa folga, apanhar um táxi no hospital
Partir o telemóvel contra um poste numa distração focada,
Cona, que mais, ir ao encontro de mais um doce cataclismo,
O culpado, sempre o mesmo, este estômago alojado
Entre a gaita e os tomates, pai da imaginação insone
Das manhãs que puxam insones jactos contrariados contra a sanita,
Deixar na cama, imensos sacos murchos sem leite,
Para ir mamar na persistente firmeza de uma nova ilusão,
Deixar no taxista a certeza de uma taxa por um primitivo
Prazer roubado a sinais de fogo antes de aprender
O que estava realmente escrito nas rugosidades do anel,
Já frio, antes do coalhar do silêncio nas fibras do que isto move.
10/2022
Turku