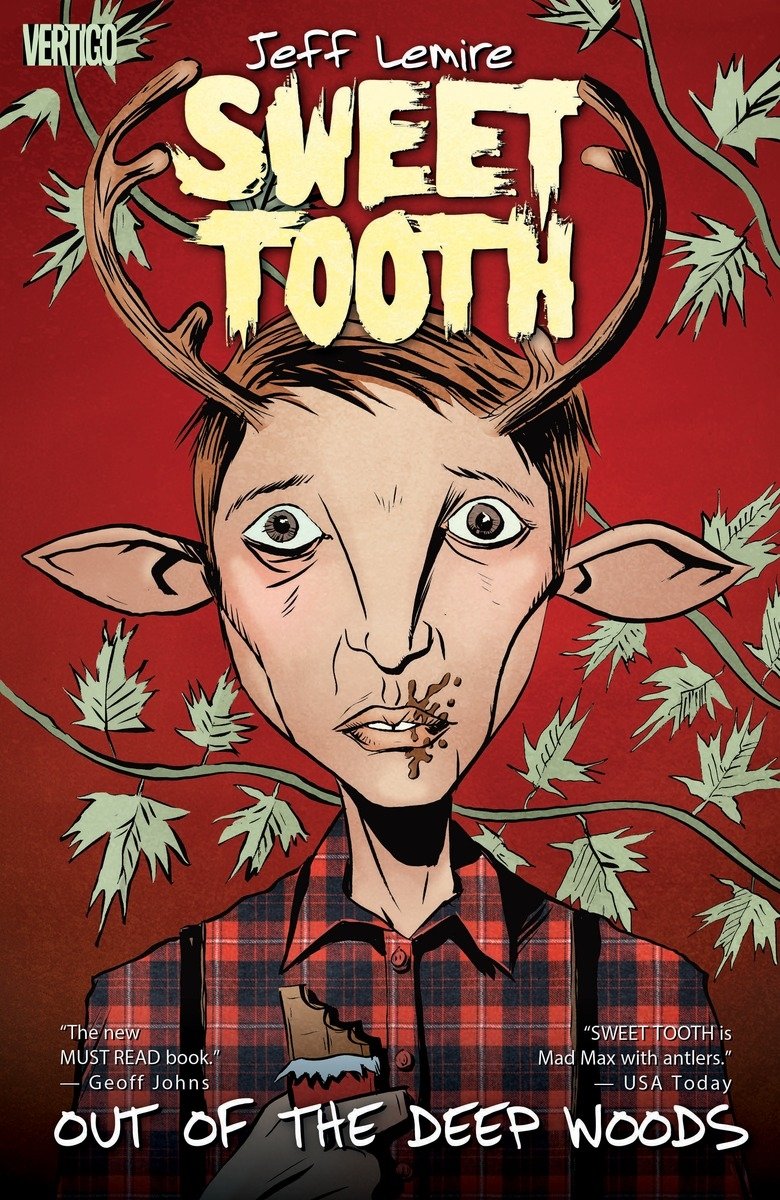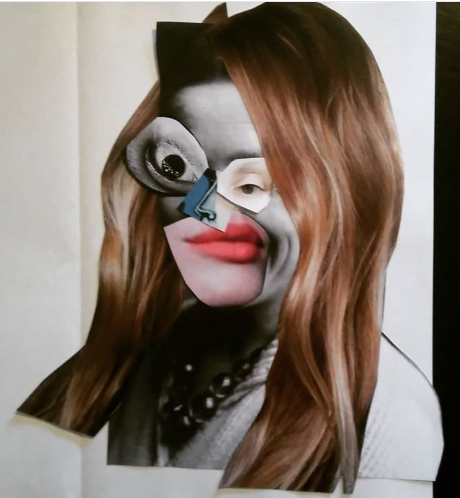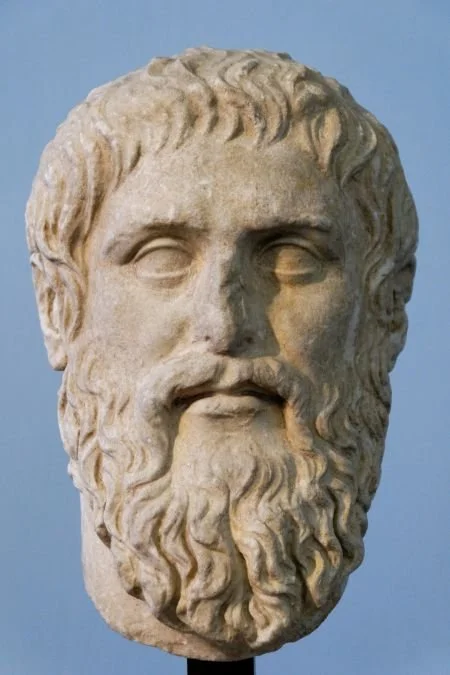Uma viagem de carro para a Carolina do Norte
/Ouvi, certa vez, de professor algo irrelevante no que diz respeito ao meu desenvolvimento intelectual – não é mentira que não me recordo da aparência física ou do nome deste professor, mas também não é mentira que estar sentado na sala de aula, naquelas bafientas salas de aula lisboetas em que não se punha em causa a sapiência ou a autoridade, em que nos sentávamos a fingir respeito extremo por aqueles intocáveis intelectuais, era razão para ler os romances que não lia na rua-, que qualquer trabalho académico começa com questões. Não sei ainda se esse questionar académico tem relação com a vida prática, uma vez que me parece incompatível atingir paz de espírito e, ao mesmo tempo, procurar respostas e sentidos para uma vida pouco atreita a racionalizações. Porém, quando, há duas ou três semanas, decidir mudar de posto de trabalho e, por conseguinte, de casa, de cidade e de Estado, uma primeira pergunta me aguçou a curiosidade: como seria viajar de carro de Newark para Chapel Hill, na Carolina do Norte?
Dir-me-ia o tal professor, sulfatador de banalidades, que procuramos fontes para responder a interrogações. Quiçá viver consista, entre outra coisas vãs, em procurar razões que anulem a vontade de responder a tão essencial pergunta: que faço aqui nesta terra, neste planeta? Instalado em faustosa moradia de quatro metros quadrados situada no Ironbound, zona antigamente portuguesa, agora hispano-americana, inquiri os meus vizinhos, a maior parte falante (unicamente) de português e amante das tradições lusitanas (rancho, fado, vinho, maledicência), sobre as dificuldades de tal empreitada. “Não custa nada”, assegurou-me vizinho experimentado nas lides da vida, não sem a bazófia alfacinha, típica de quem não sente dor alguma, mesmo que lhe espetem uma faca no braço. É bom avisar que o motivo pelo qual o vizinho não sente dores, nem mesmo se lhe cravarmos punhal na carne, prende-se ao facto de ter passado a vida a mover o braço para actividades como levar o cigarro à boca ou procurar o comando da televisão enterrado no sofá. “São oito horas a conduzir, tomas um par de cafés e estás lá”, sentenciou outro vizinho, nortenho, pintor de interiores de apartamentos e vítima de fenómeno estranho, caracterizável por temporárias manifestações de raiva quando, nos intervalos do trabalho, se cruza com a própria esposa. No geral optimistas, as sugestões tendiam para a abundante toma de café e para a prática de rituais que reforçassem o foco do condutor, como misturar coca-cola com uns comprimidos energéticos (talvez Viagra). Somente um vizinho, por todos recomendado como aquele que, por ter trabalhado nas obras na Flórida, sabia um mundo sobre viajar e conduzir, me preveniu com sageza curta mas esclarecedora: “Cuidado.”
O heroísmo latente da vizinhança encorajou-me a enfiar no interior de um Honda Accord toda a mobília, livros, roupa e tralha que encontrei no apartamento. Ainda que não me tenha sido possível acartar mais do que roupa, uma torradeira e uma máquina de café, sobrou-me espaço na viatura para uma mulher a rondar o metro e sessenta de altura e uma criança de três anos e um mês. Como não me restava mais espaço, e porque meu coração já ardia de saudade e nostalgia de Newark, de Nova Iorque, e até de coisas surreais como a padaria portuguesa da esquina, arranquei num domingo à noite, convicto de que oito horas de viagem se fariam como uma ida à praia.
Caracterizada por árvores, motéis, restaurantes de fast-food e infinita estrada plana, a paisagem torna algo monótona a travessia dos Estados Unidos através de autoestrada. Quando, depois de mais ou menos quarenta e cinco minutos a conduzir, o GPS indica que estou perto de Filadélfia, fico com a sensação de me terem mentido, que chegar à Carolina do Norte será fácil. De Delaware retenho uma longa ponte vazia, pelo carro atravessada a uma velocidade bastante superior à permitida por lei. Às vezes chove, chove muito, ao ponto de não ver dois palmos à frente. Outras vezes faz um calor húmido, e sempre o carro rasga a autoestrada como um míssil destinado a só parar no destino final. A criança dorme durante as primeiras três horas e meia de viagem, e a mulher, preocupada com a segurança de todos, vai perguntando se não será tempo de parar. “Só mais vinte milhas, só mais trinta milhas”, vou dizendo, concentrado na música e armado em John Wayne, como se fizesse ideia do que estou a fazer.
Passamos por Maryland. A noite escura pouco permite vislumbrar para além de prédios longínquos. Ao volante vêm-me memórias de Stringer Bell e outras personagens de The Wire, e com essa imagem de droga e corrupção deixo Baltimore adormecida. De repente, contrastando com o deserto contínuo, surge Washington. Embora já passe da meia-noite, e o cansaço me impeça de prestar real atenção ao que me rodeia, sinto que a capital americana surpreende pela imponência e modernidade. “Olha, o Capitólio”, ouço, mas mal tenho tempo de virar a cabeça, pois meti na cabeça que, se não abrandar o ritmo, chegarei depressa ao destino. Com a imponência de Washington para trás, outra vez abafado pelas árvores e pela solitária estrada, paramos na Virgínia, não para o par de cafés recomendado pelo vizinho, mas para dormir num motel, que isto de trazer bebés num carro tem a sua ciência. Após breve duche da praxe, que serve essencialmente para dar uso aos sabões e ao resto a que o cliente tem direito num estabelecimento do género, medito sobre a arte de viajar de carro. Nunca antes me passara pela cabeça que conduzir durante tantas horas pudesse ser viciante, que atravessar tantas cidades e Estados me pudesse estimular como um videojogo. Adormeço a assistir ao preço certo americano.
Tomamos o pequeno almoço e, porque o Estado é vasto, almoçamos na Virgínia. Os habitantes locais observam-nos como se fossemos extraterrestres. Também eles, vindos de um filme barato, fardados com botas de cowboy, apetrechados de bigodaça, cabeleiras fartas e vestes de trabalhador rural, nos surgem como figuras exóticas. Demoramos cerca de três horas a chegar à Carolina do Norte. Felizmente, em certas estradas é possível conduzir a setenta milhas por hora, o que para um português ciente do cumprimento das regras, equivale a oitenta e cinco milhas por hora. Incorporando na figura de Michael Knight, evito pensar que a Virgínia me aborrece. Mas agora, à distância de uma semana, aquilo que era uma impressão ficou em mim cravado quase como certeza: eu e a Virgínia não fomos feitos um para o outro.
Antigamente, julgava que guiar um carro não era para mim. Agora pago um carro a prestações, aprecio guiar a velocidades imoderadas, palmilho estrada de olhos fechados, como se o volante me soprasse ao ouvido para onde ir. Ensinam os budistas que estamos em constante mudança, que nem sequer existe um eu, que somos um rio em movimento. A minha vida melhorou desde que aceitei fazer parte desse rio, ou melhor, desde que deixei de resistir à mudança e parei de acreditar que a minha personalidade era x e nunca assim deixaria de ser (se era teimoso, achava que não poderia deixar de ser teimoso). A história não se repete, a minha personalidade adapta-se ao tempo e ao espaço, deixo-me ir, o que faz com que mudar de cidade, de casa, deixar para trás centenas de livros, conhecer novas pessoas ou adaptar-me a novas realidades, não seja difícil, porque fácil, difícil, entre outros adjectivos ou formas de categorização, abandonaram o meu jogo.
Entrei na Carolina do Norte exausto, necessitado de jacuzzi, piscina, praia, massagens, e de tudo o mais que deus permite. A paisagem não me fascinou logo. Parecia-me mais do mesmo. E a casa alugada só estaria pronta para entrar dois dias depois, catástrofe que me obrigaria a dormir mais duas noites em motéis e a levar a torradeira e a máquina do café para todo o lado. Não ter casa permitiu-me deambular sem destino. Conheci Carrboro, Durham, Chapel Hill e Raleigh. Não descreverei aqui os sítios que agora frequento. Atenho-me à viagem de carro. Como tantos outros portugueses, julguei que os GPS enganavam as pessoas, que induziam em erro, que quando se dizia que ir de Newark a Chapel Hill levaria cerca de oito horas, tal significava que essa viagem demoraria não mais de seis horitas. Mas o GPS não falhou. Demorei o tempo que estava previsto demorar. Não me enganei em nenhuma saída. O GPS falhou-me menos do que qualquer pessoa que tenha conhecido (deixemo-nos de passivo-agressividade). Duvido que repita esta aventura tão cedo. Mais uma vez imbuído de estupidez, imagino que, com o carro menos pesado e sem um bebé a precisar de constante atenção, retiraria duas horas à viagem. Esqueço que não dá para fechar os olhos em Newark e abri-los, cinco minutos depois, com quatrocentas e muitas milhas calcorreadas. Esta foi das mais estimulantes experiências que vivi.