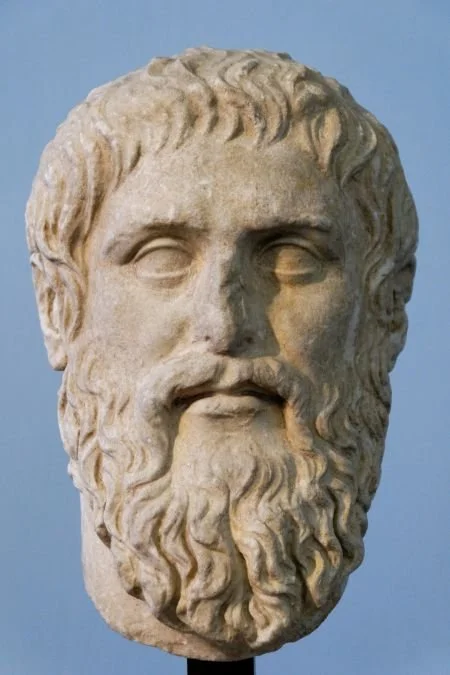Em O Tempo dos Mágicos. A Grande Década da Filosofia, 1919-1929, Wolfram Eilenberger (1972, filósofo, jornalista, professor, escritor) relata os acontecimentos biográficos e filosóficos de quatro «monstros» do pensamento ocidental: Ernest Cassirer, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein e Walter Benjamin. Durante uma década, cada um destes pensadores define uma visão do mundo que os marcará visceralmente, enquanto estabelece um legado que alimentará toda a filosofia e as artes do século XX.
Escrito num registo que entrelaça citações filosóficas e episódios prosaicos, no que costuma chamar-se «história das ideias», permite aos não especialistas (haverá algum génio que abarque os quatros autores?) acompanhar e compreender o nascimento das ideias mais fecundas destes pensadores (mais exato seria dizer, com Claude Lévi-Strauss, «destes seres vivos»), que alimentarão a construção da neo-modernidade filosófica. A tradução é cuidada e inteligente, como nos habitou Isabel Castro Silva.
Este Bestseller (esteve durante sete meses na lista das melhores vendas do Der Spiegel, muito lido também em França e Itália) talvez crie alguma urticária nos sacerdotes do mundo da filosofia portuguesa (não é uma expressão feliz, entenda-se por isto o mundo académico que vive da filosofia em Portugal), costumamos eleger uma teorização abstrata e tendencialmente redundante em vez de uma interpretação das obras imbricadas com a vida; preferimos desencarnar os autores a vê-los na sua dimensão de humanos, demasiado humanos (como queria Nietzsche); despidos dos seus contextos de vida a contaminados pelas interações sociais e vitais. É como se purificássemos os autores para capturar mais facilmente as suas ideias, capturá-las melhor e conservá-las, lisas, em formol.
A relação vida/pensamento, tantas vezes apagada por simples facilitismo, fica demonstrada na forma como Heidegger considerou, ou consolidou, que a morte tem no Dasein o «efeito de um radical isolamento.» Depois do falecimento da mãe, um processo longo e doloroso, e na sequência de lhe ter dito, perto do final, que já não podia rezar por ele porque tinha de rezar por si, Heidegger confessou ter de carregar, com mágoa, esse desprendimento e que a sua filosofia não podia ficar só no papel. De igual modo, quem pode rejeitar que o antissemitismo sentido por Cassirer e a família a partir da segunda metade da década de 20 não influenciou o seu trabalho sobre as formas simbólica? Ou a experiência da guerra, na linha da frente, sempre perto da morte, bem como os anos de professor primário nas montanhas rurais da Áustria e a súbita conversão cristã atravessou sem deixar marcas as exigências lógicas, místicas e estéticas de Wittgenstein? Ou o registo de pinga-amor e a permanente falta de dinheiro de Benjamin decidiu uma parte da sua incapacidade em redigir um pós-doutoramento canónico e aceder a uma profissão académica?
Wolfram Eilenberger contribui, pela forma como nos dá a conhecer estes filósofos, imersos na vida, para o desenvolvimento de um sentido crítico sobre o estado vital da filosofia. Reduzindo-se, pelo menos em Portugal, a quase só servir para formar professores de filosofia e compor linhas de investigação adequadas às bolsas da FCT (apesar de tudo, mais relevante a primeira do que a segunda), a filosofia é cada vez mais anódina, um jogo concetual privado que entusiasma apenas uns poucos iniciados, boxeando no vazio. Vale o paralelismo que Eilenberger faz estre escolástica e filosofia analítica:
«À semelhança de grande parte da filosofia analítica atual, também a escolástica preferia o fetichismo das distinções subtis sobre um fundamento aparentemente sólido de investigação à aventura de propor um contributo relevante ao entendimento da sua época fundamentalmente instável.» (p. 234)